“A atividade política. . . é como navegar em um mar sem fundo e sem limites; não há porto de abrigo e nem chão para ancorar, nem ponto de partida e nem destino. O esforço é para se manter à tona em equilíbrio.”
―Michael Oakeshott
Acredito que ninguém da minha geração e formação poderá esquecer onde estava na noite de 4 de novembro de 2008. Do lado de fora da minha residência estudantil na Universidade de Toronto, as pessoas corriam para o pátio às lágrimas. Foi um momento como nenhum outro que já experimentei. Algo que era aparentemente impossível havia acontecido: Barack Obama fora eleito presidente dos Estados Unidos. Minutos depois da CNN projetar o resultado, um sentimento coletivo de metade euforia, metade descrença parecia irromper por toda parte. Demorou semanas, talvez até meses, para esse sentimento se dissipar.
A eleição de Barack Obama não é minha primeira memória política, mas pode ter sido a primeira realmente formativa. Por mais embaraçoso que seja depois de mais de uma década, admito sem rodeios que fui engolido pela euforia e emocionalmente convencido pela promessa romântica de uma “mudança em que podemos acreditar”. Se tratava de uma narrativa convincente que incorporava tudo que minha imaginação política almejava na época: uma imagem de progresso como eu o entendia; um líder carismático para nos tirar da escuridão e nos levar para a terra prometida; a negação da odiada presidência de Bush e tudo o que ela representava, desde o reinado da direita cristã e seus grosseirões idiotas até suas perversidades em Fallujah e Abu Ghraib. Mesmo sem ser estadunidense, a vitória de Obama parecia um momento de grande afirmação histórica.
Digo isso não por desde então ter me tornado um escritor de esquerda e estar buscando alguma penitência, ou por estar querendo fazer uma espécie de mea culpa envergonhada (todos já tivemos dezenove anos uma vez), nem como parte de algum esforço redutivo para traçar as raízes de minha própria politização a um único evento ou momento. Cheguei à minha posição política como a maioria das pessoas: por meio de um emaranhado de ideias e expressões confusas e muitas vezes contraditórias, gradualmente esclarecidas através do aprendizado e da experiência.
Em um nível elementar, sou socialista porque simplesmente não consigo me reconciliar com uma sociedade onde tantos sofrem desnecessariamente por circunstâncias que estão fora de seu controle; onde a dignidade humana é distribuída como uma loteria; onde se permite que um sistema de castas sociais permeie todos os aspectos da vida cotidiana; e que tudo isso seja considerado perfeitamente normal e aceitável em uma civilização que dividiu o átomo e pisou na Lua.
No entanto, mesmo que fosse bacana atribuir minha posição política puramente aos sentimentos morais, isso seria uma mentira. A verdade menos nobre, para ser honesto comigo mesmo e com o leitor, é que outra coisa teve papel formativo e deu asas à minha posição política e ancoragem na esquerda: uma aversão ao liberalismo como perspectiva hegemônica em nossa cultura e um profundo e constante desdém para com a classe política que o sustenta de forma tão moralista.
Talvez eu já estivera predisposto ao socialismo democrático. Sempre me considerei “à esquerda”, mesmo durante a adolescência. De qualquer forma, fica claro em retrospecto que assistir à resposta da classe liberal aos eventos da década passada foi um estímulo poderoso em minha politização.
Ou seja, eu não adquiri um posicionamento político radical simplesmente lendo Marx na faculdade (embora isso certamente tenha ajudado). Tampouco fiquei irremediavelmente frustrado com o liberalismo apenas absorvendo algum argumento abstrato sobre suas falhas. Não tive uma revelação enquanto folheava algum volume de Chomsky ou David Harvey. E embora eu certamente os considere formativos para a minha evolução política, não foram figuras como Ralph Miliband e Tony Benn — muito menos Bernie Sanders ou Jeremy Corbyn — que imbuíram em mim um ódio ardente por toda e qualquer coisa que se autointitule “moderada” ou “centrista”.
Não. Esse instinto se deve muito mais a ter assistido Barack Obama convocar uma onda de boa vontade popular e depois chamar os velhos apparatchiks e financistas de volta à Casa Branca para retomarem suas atividades habituais, a despeito da mais severa crise econômica desde a Grande Depressão; a ter visto a “guerra ao terror” se tornar um elemento permanente da paisagem global muito tempo depois de seus arquitetos originais terem sido chutados para fora dos corredores do poder, graças a humanitários supostamente esclarecidos; a ter testemunhado o sacrifício de uma fome potencialmente monumental por mudança no altar do gerencialismo e da respeitabilidade tecnocrática. Esse instinto se deve a ter assistido Nick Clegg sorridente ao lado de David Cameron no jardim das rosas de Downing Street, antes de dar de ombros diante de uma série de cortes dilacerantes no Estado de bem-estar social britânico, traindo uma geração inteira de estudantes durante o processo; a ver a destreza com a qual os liberais do Canadá sinalizam para a esquerda e depois governam à direita; e a assitir às demandas radicais dos movimentos globais anti-austeridade serem infinitamente corroídas e regurgitadas em Davos como poesia slam neoliberal pelos jovens inovadores do momento.
Essas triangulações, assim como muitas outras como essas, me ajudaram a perceber que o mal-estar é produto de uma característica congênita, em vez de uma dorzinha temporária. Em outras palavras, o problema não é que o liberalismo contemporâneo não esteja correspondendo aos seus ideais – e sim, que os está correspondendo muito bem.
Desde muito jovem, fui treinado pela cultura política mainstream a pensar no liberalismo como sinônimo de mudança, progresso e até dissidência. Essa, pelo menos em teoria, continua sendo sua marca oficial em nosso momento de catástrofe climática iminente e crescente nacionalismo de direita. No entanto, durante toda a década particularmente sombria de 2008-2018, os liberais se posicionaram como persistentes agentes da cautela, hesitação e segurança, muitas vezes direcionando mais hostilidade aos eleitores da esquerda do que aos da direita, aos quais eles se opõem ostensivamente. Diante da escolha entre uma figura populista radical e uma burocrata ortodoxa em 2016, os executivos da Liberalismo S.A. deixaram essa antipatia muito clara — e agora estamos vivendo suas consequências desastrosas.
Numa época em que uma ex-estrela de reality show enlouquecida possui os códigos de lançamento nuclear, muitos membros das elites liberais ainda insistem firmemente que as coisas nunca foram tão melhores assim e que, sob o caos do nosso presente tumultuado, a humanidade estaria caminhando obstinadamente em direção a algo Realmente Emocionante. (Por isso que a figura que melhor reflete nossa ordem liberal em crise não é o carrancudo Jordan Peterson, e sim o radiante Steven Pinker — que está vendo o mundo queimar ao seu redor e proclamando, como um Professor Pangloss pós-moderno, que está tudo muito bem, obrigado; enquanto as chamas lambem seus pés.)
É claro que o liberalismo moderno tem em seu passado uma tradição filosófica rica e diversificada na qual socialistas e conservadores podem ocasionalmente buscar recursos e inspiração. Mas talvez por ter sido vítima de seu próprio sucesso ou por não ter se adaptado significativamente desde o seu mais recente ápice nos anos 90, o atual mainstream liberal parece menos preocupado com ideias do que com temperamento, sendo mais guiado pela atmosfera política do que pela racionalidade.
Pode ser esse o motivo que leva o pensamento liberal a ficar infinitamente obcecado com a linguagem usada no debate político e, muitas vezes, parecer valorizar mais o tom e a qualidade do que o conteúdo ou o resultado. É também por isso, suspeito, que os sorridentes Trudeaus e Obamas de hoje parecem se preocupar muito mais com a forma com que as coisas são vistas do que com as coisas em si, valorizando a santidade dos procedimentos em detrimento das implicações que eles possam ter na vida das pessoas comuns.
Há mais motivação para gerenciar eficientemente o descontentamento do que para combater a injustiça: tomar a temperatura do clima popular; estancar qualquer aspiração radical; depois servi-la de volta embrulhada no pacote mais esteticamente agradável que os praticantes do liberalismo conseguirem arranjar; e rezar para que ninguém perceba quando a tinta dourada perder seu brilho ao primeiro sinal de soluço no mercado, de déficit orçamentário, intervenção estrangeira ou desafio real pela esquerda.
Com o tempo, a encenação se esgota e a embalagem deve ser redesenhada de acordo com os gostos em evolução dos potenciais compradores do eleitorado. Tomando emprestado do mundo do marketing, a política liberal tornou-se, assim, uma busca infinita e cada vez mais absurda por reconfigurar ligeiramente a retórica e reembalar suavemente as mesmas velhas políticas e ideias como novos empolgantes capítulos na história do século XXI.
Assim, “políticos Teflon” como Joe Kennedy III, representante de Massachusetts, se treinaram para emitir com confiança declarações ousadas que representam pouco mais do que esforços glorificados de rebranding – o mais recente sendo um sistema “radicalmente novo” de pensamento que o congressista chama de “capitalismo moral”. (À sua maneira, essa é uma metáfora ainda melhor para o liberalismo em crise do que o Iluminismo quixotesco de Steven Pinker: um descendente da terceira geração de uma dinastia aristocrática tentando se apropriar do manto da novidade com um slogan digno de esquemas de pirâmide que se passam por seminários de autoajuda.) É um impulso idêntico ao que leva os mega estúdios de Hollywood a remontar as mesmas franquias repetidas vezes, e é também o que faz com que alguns liberais acreditem que encontrarão o antídoto da Era Trump em Oprah, Michael Bloomberg ou Beto O’Rourke.
Em teoria, o liberalismo moderno é um conjunto de ideias sobre liberdade humana, mercados e governo representativo. Na prática, pelo menos ao que me parece, se tornou em grande parte um afeto político essencialmente conservador: um conjunto de reflexos comuns àqueles que têm uma fé panglossiana nos mercados capitalistas e nas instituições que tentam sustentá-los em meio a nossa instável ordem global. Em teoria, é uma ideologia de progresso. Na prática, se tornou a teologia secular do status quo; o mecanismo pelo qual os bucaneiros dourados do Vale do Silício, de Wall Street e do capital multinacional racionalizam a hierarquia e a exploração, promovendo a resignação e a deferência educada entre os governados.
A etiqueta acima da igualdade, as boas maneiras acima da moral, o procedimento acima do programa, a conciliação acima do conflito, a má conduta privada acima do bem público. O liberal moderno faz política, cada vez mais, tal qual a recomendação do filósofo conservador Michael Oakeshott: mantendo as coisas em equilíbrio e se recusando a definir um rumo. O problema é que, enquanto seus oficiais beijados pelo sol seguram as pontas tão alegremente no convés, o navio está afundando e os passageiros dos andares debaixo já se afogaram.





















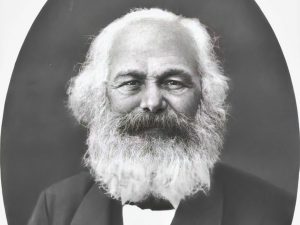





[…] Liberais de esquerda, progressistas e sociais-democratas, por sua vez, muitas vezes estão preparados para pressionar por mais “liberdade positiva” na forma de direitos a cuidados de saúde, educação e um ambiente seguro. No entanto, o controle democrático sobre o investimento e a produção representaria um modelo muito mais promissor para a liberdade, uma vez que alcançar o controle pelos trabalhadores substituiria a motivação capitalista do lucro pela solidariedade – o impulso dar apoio e colaborar com nossos semelhantes. […]
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!