Quando Isabel Telinhos saiu de seu apartamento, toda emperiquitada em 13 de janeiro de 1975 — com salto alto, saia justa, cílios postiços e uma peruca loira encaracolada à la Marilyn Monroe — ela não tinha ideia do que estava para acontecer.
“Eu levei o meu filho comigo como todas essas outras mulheres. Era para ser um pequeno protesto, apenas alguns jornalistas, para que pudéssemos falar denunciar algumas questões e conseguir alguma cobertura na mídia”. O protesto seguiu várias outras ações do grupo feminista Movimento da Libertação da Mulher (MLM) de Portugal. “Sentimos que precisávamos de uma chamada radical para despertar a sociedade. Se não for radical, nada muda. Em qualquer situação política, as ações devem ser radicais”.
Já se passaram mais de quarenta e cinco anos desde aquela fatídica tarde de segunda-feira, em 1975. O MLM tinha organizado um ato no Parque Eduardo VII, o maior parque central de Lisboa. Mas quando as cerca de quinze mulheres chegaram, foram recebidas por uma multidão de homens: “Uma multidão que rapidamente se transformou em uma horda”, lembra o renomado jornalista português Adelino Gomes. “Não era apenas um grupo de pessoas assediando aquelas mulheres. Era uma horda”, enfatiza Adelino. “A certa altura, quando começaram a marcha, os homens foram atrás delas e a coisa saiu totalmente do controle”.
Adelino Gomes é conhecido em Portugal por ter feito a cobertura da Revolução dos Cravos, ou 25 de Abril, o golpe militar de 1974 no qual o dissidente Movimento das Forças Armadas (MFA) derrubou o regime fascista de cinco décadas. Inicialmente tendo recebido um toque de recolher, a população logo inundou as ruas em apoio ao MFA, distribuindo cravos vermelhos para os soldados. Adelino noticiou os últimos suspiros da ditadura em uma estação de rádio em que havia sido proibido de trabalhar pelos censores oficiais. Ao seguir o caminho do Terreiro do Paço até o Largo do Carmo, ele repetiu ao microfone exatamente o que estava ouvindo da multidão: “Abaixo a guerra colonial! Abaixo o fascismo!”
Ao encontrá-lo na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, perguntei porque estivera presente na ação do MLM. “Bem, a ação tinha todos os fatores necessários para ser digna de notícia. Era um protesto, primeiro de tudo; das mulheres, segundo de tudo; de um movimento de libertação das mulheres, terceiro; um movimento onde elas não apenas apresentariam suas reivindicações, mas colocariam fogo, literalmente, nos símbolos da opressão feminina”.
E existiam muitos desses. Isabel Telinhos lembra, sobretudo, dos folhetos pornográficos, das panelas e frigideiras, mas também das grinaldas de noiva, vassouras, panos de pó, brinquedos machistas, A Carta de Guia para o Homem Casado de Francisco Manuel de Melo (uma carta do século XVII na qual o autor argumenta, entre outras coisas, que o “melhor livro” para uma mulher seria a almofada e uma maquina de costura).
“Quero dizer, quem não cobriu a ação, ou era um idiota e deveria ter abandonado o jornalismo ou estava completamente (o que era muito provável) distraído — e digo isto como uma crítica profunda — distraído com tudo que estava acontecendo naquela época. E depois havia outro fator, que, para melhor ou para pior, nunca deixa de existir: era logo ao virar da esquina”, ri Adelino.
Ele não está exagerando. A redação da Rádio Clube Português ficava a cinco minutos a pé do Parque Eduardo VII. Madalena Barbosa, feminista emblemática e fundadora do Movimento de Libertação da Mulher, também tinha um apartamento ao virar da esquina, onde muitas mulheres se refugiaram naquele dia. De acordo com vários relatos, cerca de dois mil homens as perseguiram segurando cartazes que diziam “Abaixo elas!” e “Isto é ridículo”. “Eles estavam me cercando… gritando ‘vamos despi-las!’ … tentando virar de cabeça para baixo a van onde nossos filhos estavam brincando”, me contou Isabel. “E você sabe que quando se trata de grandes multidões, basta uma pessoa tentar algo para que todos as outras comecem a fazer igual”.
Se o comportamento terrível dos homens parece difícil de entender, a razão pela qual eles estavam lá não é tão misteriosa. Alguns dias antes, em 11 de janeiro, o grande jornal semanal Expresso publicou um artigo anônimo que, brincando, anunciava que “segundo informações confiáveis”, o encontro teria “o striptease de uma noiva, uma dona de casa e uma femme fatale, que usariam a flor de laranjeira, [uma flor tradicionalmente associada à pureza e castidade] o avental, e o biquíni para acender uma fogueira”. E de fato, estes estereótipos estavam lá: a noiva, a dona de casa e a femme fatale, um arquétipo sexista que retrata a mulher como objeto sexual. Isabel Telinhos, com sua peruca loira e sua saia justa, era a femme fatale naquele dia. “Elas são as mais assediadas pelos homens”, lembrou.
Mas a verdade começa e termina aí. Anos após o protesto, ainda existem rumores de que sutiãs foram queimados — o que é refutado por todos que estavam presentes. A ativista feminista Maria Antónia Palla, uma das primeiras mulheres jornalistas portuguesas, lembra dos boatos: “É tudo mentira. Acho que nunca descobrimos quem começou a espalhar isso, mas é mentira… Eu fiquei lá até o final, até irmos todas para o apartamento de Madalena Barbosa, e nada disso aconteceu”. Isabel concordou: “Ninguém ia queimar sutiã nenhum”.
Nada foi queimado naquele dia — a fogueira nunca aconteceu. Mas o que aconteceu naquela tarde de 1975, nove meses depois da revolução, foi que as mulheres que saíram às ruas para protestar por seus direitos foram forçadas a fugir. Elas foram insultadas, assediadas, agredidas e perseguidas.
Quarenta e cinco anos depois, Isabel admite não recordar de alguns detalhes. Mas ela lembra vividamente de quando se voltou para um homem que queria arrancar sua roupa e conseguiu gritar: “‘Bem, vamos arrancar a sua roupa primeiro!’ E foi isso. Eu nem pensei duas vezes. Eu só senti que precisava me defender”. Ela passou horas a fio no Parque Eduardo VII naquele dia, gritando de volta para a multidão, tentando encontrar uma saída.
“É terrível como — no meio da alegria e da liberdade trazidas pelo 25 de Abril, em que todos se reuniam em sindicatos para lutar por seus direitos — tantos homens foram até lá por terem ouvido que mulheres estariam tirando a roupa. Isso foi brutal”, lamentou Isabel por telefone. “O espetáculo que os homens deste país, sem discriminação de cultura, classe ou ideologia, deram no Parque Eduardo VII, veio mais uma vez para confirmar a necessidade dos movimentos feministas”, escreveu a jornalista Lourdes Féria no Diário de Lisboa do dia seguinte. “Alguns fotógrafos de jornal correram de um lado para o outro, quase babando de luxúria enquanto perguntavam aos gritos: ‘Onde elas estão? Eles já tiraram a roupa?'”
Muitos dos que estiveram lá ainda têm dificuldade para explicar o que aconteceu. Afinal, eram apenas algumas dezenas de mulheres, muitas acompanhadas pelos filhos, fazendo algo muito semelhante ao que os movimentos feministas estavam fazendo no exterior. Manuela Tavares, cofundadora e diretora da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), que escreveu a tese de doutorado mais abrangente sobre feminismo em Portugal, explica que as ativistas estavam, de certa forma, tentando replicar o que as feministas francesas haviam feito nos anos 60 e 70: “Havia este ato realmente simples de colocar uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido dedicada a sua esposa. Porque mais desconhecida do que o soldado desconhecido é a esposa do soldado desconhecido”, ela ri. A coroa dizia: Il y a plus inconnu que le soldat inconnu: sa femme (“há alguém ainda mais desconhecida do que o soldado desconhecido: sua esposa”). E de certa forma, elas queriam receber o mesmo tipo de atenção.
Liberdades abusadas
O Movimento de Libertação da Mulher foi fundado em 7 de maio de 1974, menos de um ano antes do protesto que nunca aconteceu. No começo desse dia, Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa haviam sido exoneradas do caso que ficou conhecido como “As Três Marias”, em que foram acusadas de “abuso da liberdade de imprensa” e “ultraje à decência pública” graças ao “conteúdo pornográfico” de seu livro recém publicado, Novas Cartas Portuguesas.
Concluído em 1972, Novas Cartas Portuguesas não é um livro facilmente digerível. É uma homenagem ao clássico do século XVII, Cartas de uma Freira Portuguesa, uma obra de cinco cartas de amor apaixonadas e angustiadas, supostamente escritas por uma freira portuguesa, Mariana Alcoforado, para a funcionária francesa que a seduziu e a abandonou para evitar escândalos. O livro não se trata apenas de uma coleção de cartas ou poemas, embora certamente seja ambos, tampouco pode ser simplesmente descrito como um manifesto feminista.
A obra foi assinada coletivamente pelas Três Marias (até hoje, ninguém sabe qual Maria escreveu o quê). Elas não estavam falando apenas pelas três, mas por todas as Marias, Marianas e Maria Anas; por todas as mulheres reprimidas em um país profundamente católico que não tinha nada a lhes oferecer além de um papel maternal, coadjuvante. Novas Cartas Portuguesas rompe com a autoridade patriarcal do regime fascista, criticando não apenas o lugar da mulher na sociedade, como também a continuidade do projeto colonial de Portugal.
“Compraz-se Mariana com o seu corpo“, leu Manuela Tavares quando a visitei na UMAR (originalmente chamada União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias), um lugar onde várias gerações de feministas já se encontraram desde sua fundação em 1976. Caminhamos pelo “Jardim das Três Marias” para chegar a uma sala aberta cheia de livros e pilhas de arquivos e cartazes sobre prostituição, violência sexual e violência doméstica. A chuva estava caindo calmamente lá fora quando começamos a falar sobre o protesto, o MLM e Novas Cartas Portuguesas.
“Acredito que Novas Cartas Portuguesas tenha causado uma grande agitação em uma sociedade conservadora que era produto de quarenta e oito anos de fascismo, de escuridão”, diz Manuela. “Foi uma poderosa chamada à ação”. Lendo suas partes favoritas do livro, ela revela que ele começou a chamar a atenção mesmo antes de sua publicação, quando um funcionário da gráfica reclamara para o chefe sobre o seu conteúdo. Vários exemplares conseguiram encontrar um caminho de circulação em Lisboa, mas quando os censores oficiais encontraram o livro, ele foi prontamente banido. Os promotores do Estado abriram acusações formais contra as autoras e Romeu de Melo, diretor da editora.
O processo se referiu ao conteúdo pornográfico como o principal motivo da apreensão do livro, mas Duarte Vidal, advogado de defesa de Maria Isabel Barreno, acreditava que o verdadeiro objetivo era censurar suas duras críticas ao governo fascista. Em sua defesa, ele argumentou: “Naturalmente preocupados que uma acusação de natureza política contra as três talentosas escritoras fosse mais um escândalo, somando-se aos muitos outros que humilhavam a imagem do país, os censores portugueses, com um maquiavelismo típico de suas consciências sujas, encaminharam as três escritoras à polícia encarregada de investigar crimes comuns, como autoras de um livro pornográfico”.
Se a ideia era evitar outro escândalo, o tiro saiu pela culatra. Cópias do livro foram contrabandeadas para fora de Portugal e traduzidas em vários idiomas, e durante os dois anos em que o processo se arrastou, o caso se tornou uma cause célèbre internacional, provocando protestos mundiais em apoio às escritoras. Em 1973, a primeira Conferência Internacional de Planejamento Feminista em Cambridge votou unanimemente a favor do apoio às Três Marias como a primeira ação feminista internacional.
A audiência foi adiada duas vezes. Finalmente, em 7 de maio de 1974, apenas alguns dias depois da revolução, as Três Marias foram absolvidas de todas as acusações. Nessa mesma noite, Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno decidiram começar um movimento de libertação das mulheres — o MLM. Esta foi “a primeira associação feminista portuguesa a colocar o problema do aborto, da sexualidade e da violência contra as mulheres na agenda política do país”, diz Manuela. Mas apesar de sua popularidade no exterior e da urgência dos assuntos que estavam discutindo — e o fato de que, nesta época, milhares de mulheres morriam entre cem e duzentos mil abortos clandestinos e inseguros por ano — o movimento não foi necessariamente bem recebido.
Irene Flunser Pimentel, historiadora e pesquisadora da Universidade NOVA de Lisboa, diz que “estas mulheres do MLM sofreram com o extremo atraso de Portugal, que nunca havia tido um movimento estritamente feminista”. O feminismo, argumentou ela, “era para mulheres privilegiadas, burguesas”. A esquerda achava que “a luta de classes tinha apenas uma solução, e que as mulheres que faziam parte do movimento feminista eram burguesas e não sabiam nada sobre a vida e as lutas das mulheres proletárias”.
“No início do século XX, em Portugal”, ela acrescenta, “o movimento republicano de mulheres sufragistas lutou principalmente pelo direito ao voto e à educação”. Entretanto, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 1970, 31% das mulheres ainda eram analfabetas em Portugal, duas vezes mais que os homens. “Ninguém lia. Era muito difícil chegar às pessoas porque, na época, se chegava nelas através de panfletos”.
Mas essa não é a única razão por trás da falta de reconhecimento do MLM em Portugal. Se hoje a palavra “feminismo” ainda é um pouco controversa, naquela época, era quase “suja”. Maria de Lourdes Pintasilgo — que lutou a vida toda pelos direitos da mulher, criou a Comissão sobre a Condição Feminina, e que, até hoje, foi a única mulher primeira-ministra de Portugal — não gostava do termo. Ela escreveu que “‘feminismo’ é uma palavra arcaica, de má reputação e sem força dinâmica”.
Olhando para as luta das feministas em 1978, Madelena Barbosa explica por que eram mal vistas: “Quarenta e oito anos de salazarismo significaram a doutrinação das mulheres com o mito da maternidade auto-sacrificial, da esposa dedicada e da virgem incorrupta, enquanto a censura nos impedia de conhecer a realidade das lutas das mulheres em todas as partes do mundo… O feminismo tornou-se assim um termo de conotação negativa e risível para as mulheres portuguesas que, em sua maioria, até hoje, não conhecem o real significado político das lutas das mulheres”.
Irene concorda que a censura teve um papel destrutivo nas vitórias da mulher portuguesa durante o liberalismo republicano do início do século XX: “Uma das principais coisas do Estado Novo [ou Segunda República], além da polícia secreta, da proibição dos partidos políticos e de tudo isso, foi a censura… Houve um grande hiato — quarenta e oito anos é muito tempo. Acho que as pessoas não percebem como este tipo de longevidade molda a memória e a mentalidade coletivas.”
“Segunda Categoria”
O Código Civil aprovado em 1966 era mais do que claro sobre o papel pretendido para as mulheres. Uma seção sobre “Poder Marital” declarava: “O marido é o chefe da família, e cabe a ele, nessa capacidade, representá-la e decidir em todos os aspectos da vida matrimonial”.
Como me contou a historiadora Irene Flunser Pimentel — especialista no Estado Novo fascista e coautora de um livro sobre a mulher portuguesa no século XX — o papel da mulher sob o Primeiro Ministro António de Oliveira Salazar limitava-se ao casamento, ao trabalho doméstico e à educação de seus filhos: “Afinal, era o que estava no Código Civil”. Na época, o Código Civil português incorporava a ideia do homem como o chefe da família, “e todo o resto fluía a partir disso”. Porque se o homem era o chefe da família, quem lhe devia obediência? A esposa e os filhos. Todas as regras partiam daí”.
Em entrevista ao Diário de Notícias em 2016, Irene lamenta que, embora o status de “português de segunda categoria”, tipicamente usado para se referir aos portugueses nascidos nas colônias, tivesse terminado em 1950, “as mulheres continuaram sendo ‘de segunda categoria’ até 1976”, dois anos depois da Revolução dos Cravos, que proclamara a liberdade para todos.
Com a derrubada da ditadura, em meio a um processo revolucionário em andamento, o Código Civil ainda afirmava que os homens podiam abrir a correspondência das mulheres, ou que a perda da virgindade (das mulheres, claro) justificava a anulação do casamento. Os homens tinham autoridade quase total sobre suas esposas, filhos e propriedades.
E se aos olhos da lei as mulheres ainda eram inferiores aos homens, na mente das pessoas não havia muita dúvida: “Foi uma exibição muito triste da misoginia portuguesa e que provou que, afinal, o 25 de Abril ainda não tinha conseguido combater a mentalidade existente”, suspira Adelino Gomes, referindo-se aos eventos ocorridos naquela tarde de janeiro. “Vou usar uma palavra aqui: elas ‘provocaram’ o ‘macho ibérico’. E o ‘macho ibérico’ não precisa nem ser provocado para mostrar a que veio”. Adelino se refere a um infame caso judicial de 1989, em que duas turistas foram estupradas no Algarve. O Supremo Tribunal de Justiça decidiu que, embora o caso fosse moralmente repreensível, as duas jovens “contribuíram muito para sua realização”, pois elas “não hesitaram em pedir carona aos transeuntes, bem no território do dito ‘macho ibérico'”. “Estas são expressões da tristeza cultural e civilizacional desta comunidade”, reclama Adelino.
Não seria a última vez que o “macho ibérico” se revelaria, provocado ou não. Nem seria a última vez em que a culpa recairia sobre as vítimas. Mesmo em 2017, o juiz Neto de Moura justificou a violência doméstica com base no caso extraconjugal da vítima. No julgamento, que atraiu uma tempestade de críticas, ele disse que:
Adultério feminino é uma ataque muito sério a honra e dignidade do homem.
Ainda existem sociedades em que uma mulher adúltera é apedrejada até a morte.
A Bíblia diz que mulheres adúlteras devem ser punidas com a morte.
Não faz muito tempo que a lei penal (Código Penal de 1886, artigo 372) punia pouco mais do que simbolicamente o homem que, apanhando sua mulher traindo, a matasse.
Estas referências são apenas para enfatizar que o adultério feminino é um comportamento que a sociedade sempre condenou, e condena fortemente (e mulheres honestas são as primeiras a estigmatizar as adúlteras), e é por isso que a violência exercida pelo homem traído, irritado e humilhado é vista com certa compreensão.
Foi a deslealdade da autora e sua imoralidade sexual que fizeram com que o réu X caísse em uma depressão profunda, e foi nesse estado depressivo, atrapalhado pela repulsa, que ele cometeu o ato de agressão, como foi considerado na sentença recorrida..
O macho ibérico ainda não está extinto. As subsequentes revisões dos Códigos Civil e Penal não conseguiram desfazer a misoginia profundamente enraizada que pode ser encontrada, ainda hoje, em nossas instituições. Quase cinquenta anos depois, a luta que as Três Marias e as mulheres no MLN começaram ainda está longe de acabar.
O aborto não é um crime
O Movimento de Libertação das Mulheres não durou muito tempo após o protesto que as levou até o Parque Eduardo VII: “Havia grandes contradições, e elas acabaram seguindo rumos distintos” disse Manuela. “No geral, achamos que o MLM fez o que podia,” escreveu Madalena Barbosa em 1978. Afinal, para um movimento de tão curta duração, o MLM incomodou muita gente. E teve grandes implicações no tecido social, cultural e político português.
“Todas essas mulheres se movimentavam nos mesmos círculos,” observa Irene, “e podem não ter participado do MLM per se, mas também eram feministas e tinham as mesmas demandas. Quando eu conheci Madalena Barbosa, ela já participava de um centro de documentação feminista, do qual eu também fazia parte. Encontrei muitas dessas mulheres lá, lutando pela descriminalização do aborto.”
A descriminalização do aborto era uma das pautas mais radicais do MLM. Em 1975, Maria Teresa Horta, Célia Metrass e Helena de Sá Medeiros publicaram o primeiro e único livro sobre aborto em Portugal, Aborto: Direito ao Nosso Corpo. Ele defendia que “aborto não é um problema médico ou religioso, mas sim sociopolítico…. A decisão de fazer um aborto é apenas da mulher grávida, que tem (ou deveria ter) o direito de controlar seu próprio corpo.”
Mesmo sem nunca ter participado do MLM, Maria Antónia Palla também lutou a maior parte da sua vida pela descriminalização. Na década de 1960, Maria Antónia Palla foi uma das primeiras mulheres registradas no sindicato dos jornalistas. Ela também foi uma das primeiras mulheres autorizadas a integrar a equipe editorial do Diário Popular, um jornal do qual ela foi demitida em Maio de 1968 por cobrir a revolta estudantil em Paris sem permissão.
“Eu estava envolvida principalmente na defesa da liberdade de imprensa, mas sempre me interessei pelas questões das mulheres,” ela me disse. Em 1974, ela e sua colega Antónia de Sousa começaram a produzir um série documental sobre a situação da mulher em Portugal, até 1976, isto é, até quando decidiram fazer um episódio sobre aborto. Em O Aborto Não É um Crime, elas decidiram filmar uma mulher que escolheu fazer um aborto em casa, com a ajuda de médicos de uma clínica em Cova da Piedade.
As imagens se mostraram muito explícitas para os telespectadores, que responderam com uma tempestade de críticas à emissora pública RTP. A série foi rapidamente cancelada e os autores formalmente processados por “ultraje à moral pública” e “apologia ao crime”: “Ficou claro, naqueles dois anos, que havia liberdade para tudo, mas não para as mulheres decidirem se queriam ou não ter filhos, ou para decidirem o que acontecia em seus próprios corpos”, lamenta Maria Antónia.
Milhares de mulheres sofreram sem necessidade por interrupções clandestinas de gravidez. Muitas não tinham como pagar por anestesia, e mesmo quando podiam, ela era tipicamente administrada por parteiras sem nenhuma qualificação para isso. É irônico, Maria Antónia salienta, “que no meio disso tudo, minha reportagem é que era indecente.”
A audiência aconteceu em 1979, três anos depois da transmissão do programa na RTP: “Pelo menos ajudou no avanço da causa, e, nessa medida, senti que não foi completamente inútil. Mas é bem desagradável esperar três anos por um julgamento.” Quando finalmente foi convocada, ela admite a sorte que teve: “Tanto o juiz quanto o promotor eram feministas. Eles mexeram uns pauzinhos e conseguiram pegar o caso, porque havia esse outro [promotor] que queria me condenar.” Ela ri, afinal, depois do julgamento ela e o promotor até se tornaram amigos.
Em 1976, Albino Aroso, médico e secretário de Estado no governo provisório de Francisco de Sá Carneiro, publicou a Lei do Planeamento Familiar, que permitiu que as mulheres tivessem acesso a essas consultas. Esta medida lhe rendeu o apelido de “Pai do Planeamento Familiar”, “mas nós queríamos muito mais,” adiciona Maria Antónia. “Nós queríamos uma lei que descriminalizasse o aborto.”
E ainda assim o aborto não seria descriminalizado tão cedo. Foram necessários trinta e um anos depois da circulação do O Aborto Não É um Crime para que de fato o deixasse de ser. Depois de uma derrota apertada no referendo de 1998, na segunda tentativa em 2007, 59,3% da população respondeu “sim” para descriminalizar interrupções voluntárias — ainda que apenas nas dez primeiras semanas de gravidez. A descriminalização foi aprovada no Parlamento logo depois, com os votos a favor dos Socialistas, dos Comunistas, do Bloco de Esquerda e dos Verdes.
Ainda que tenha sido uma vitória para o movimento feminista, há questões levantadas no primeiro panfleto do Movimento de Libertação das Mulheres de 1975 que ainda não foram respondidas até hoje. Além de reivindicar a revisão do Código Civil e o direito de remuneração igual para trabalho igual, as ativistas também reivindicavam, por exemplo, o reconhecimento do trabalho doméstico pelo Estado, ou creches infantis para todas as mulheres. “Curiosamente, mesmo hoje, a imagem que as pessoas têm do MLM é que todas nós éramos mulheres tolas, do mesmo jeito que as feministas do início do século XX eram chamadas de loucas e histéricas, quando elas foram instrumentais,” diz Maria Isabel Barreno em uma entrevista dada em 2006 ao Público. “Hoje, os princípios que nós defendemos são considerados normais, respeitáveis e são defendidos por todas as organizações políticas.”
Para a historiadora Irene Flunser Pimentel, a descriminalização do aborto foi um dos maiores legados do MLM. “Talvez seja ilusão da minha parte, receio, porque foi um movimento muito isolado e, acima de tudo, um movimento derrotado. Mas não há dúvida de que essas mulheres na vanguarda iniciaram um esforço que teria muitas ramificações mais tarde, como na questão do aborto.” Mas não apenas no aborto. Irene também menciona a reforma do Código Civil de 1977, substituindo “Poder Marital” pelo “Dever de Cooperação” para os dois cônjuges. Isso é devido principalmente à Comissão da Condição Feminina, hoje chamada Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, da qual Madalena Barbosa também fez parte.
“No longo prazo, [a reforma do Código Civil] foi talvez a maior mudança, pelo menos aos olhos da lei. Claro, a questão central é que há uma enorme lacuna entre a lei e a ação — hoje seria bem interessante analisar como estas coisas fluíram de cima para baixo.”
O que nós vamos fazer com a nossa liberdade?
Para Adelino Gomes, o legado do MLM representa “o farol para um caminho que ainda não foi percorrido. Mesmo hoje, eu estava olhando a foto das três [a noiva, a dona de casa e a femme fatale], tão jovens e corajosas, e isso mexeu comigo. É a luta inconclusa de mulheres como Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno — mulheres com sensibilidade poética e literária que lutaram através da literatura, que usaram as armas que tinham.”
Isabel Telinhos, que se emperiquitou toda naquela tarde de segunda, acredita que o legado do protesto de 1975 está além de simples registros em papel. “Naquele momento, nós conseguimos chamar a atenção de muitas pessoas e ajudar muitas mulheres a enxergarem que a vida é mais do que lavar roupa,” ela disse pelo telefone. Antes de desligarmos, ela acrescentou: “Foi bom. Foi maravilhoso.”
Todos com quem eu falei concordam que temos um longo caminho à nossa frente. Por exemplo, Irene disse que “hoje em dia, as mulheres trabalham tanto quanto os homens e depois trabalham sabe Deus quantas horas mais quando chegam em casa, e há estudos sobre isso”. Ela reclama que as mulheres não têm tempo suficiente para estudar, para pensar, para ter lazer, “para nada!”
Um caminho menos percorrido é o da luta contra a violência doméstica. Irene compara a falta de discussão sobre essa questão em Portugal desfavoravelmente com a França: “Aqui, a violência doméstica só é discutida e resolvida nos termos da lei, quando deveria ser um assunto falado por todos nós.” É como se o velho ditado português “em briga de marido e mulher não se mete a colher” ainda fosse válido. Mas, “de acordo com a lei você precisa meter a colher, sim!” brinca Irene. Nós ganhamos várias liberdades de volta no 25 de Abril, mas como me disse Maria Antónia Palla, “liberdade é algo pelo qual temos que lutar todos os dias.”
De volta àquele dia em 1974, ela “estava na rua às 7 horas da manhã. Foi muito emocionante”. Ela estava no Largo do Carmo, onde o Estado Novo se rendeu ao Movimento das Forças Armadas, e foi direto para a redação de O Século Ilustrado, onde trabalhava: “Só que eu não conseguia escrever. Quer dizer, eu colocava uma folha de papel na máquina e a jogava no chão, outra folha de papel, outra jogada no chão.” Finalmente, ela pensou numa frase que, até hoje, está em sua cabeça: “Agora que a liberdade é nossa, o que é que vamos fazer com ela?”









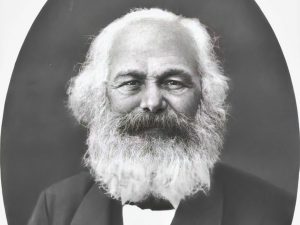





Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
Drittens können Spieler so ihre Favoriten unter den Slots identifizieren,
um später gezielt mit Echtgeld zu spielen. Es lockt Neukunden mit satten €1650
Bonusgeld und 300 Freispielen! Die Auswahl ist solide, richtet sich aber eher an Gelegenheitsspieler, die ein paar Runden klassische Casinospiele genießen möchten.
Willkommensbonus 100 Freispiele für Legacy of Dead oder Dragon Tribe
Im Wunderwins Casino können Spieler aus Österreich dank einem erstklassigen Willkommensbonus buchstäblich ihr blaues Wunder erleben. Zulegen kann das Wunderwins Casino noch in den Bereichen Kundendienst sowie bei
den Bestandskundenboni. Auf der anderen Seite müssen wir
erwähnen, dass der Kundendienst Verbesserungspotenzial bietet.
Das Wunderwins Casino blieb uns vor allen Dingen aufgrund seines Willkommensbonus
positiv in Erinnerung. Im Falle von Gewinnen, die
aus dem Spielen ohne Einzahlung/Gratisbonus/Cash Drop resultieren, beträgt die maximal zulässige Auszahlung das Fünffache (x5)
des Bonusbetrags. Jegliches verbleibende Bonusgeld aus dem Willkommensangebot
wird von einem Spielerkonto entfernt, wenn eine Auszahlung vorgenommen wird, bevor der Umsatz abgeschlossen ist.
Die Willkommensboni sind großzügig und regelmäßig gibt es spannende Promotions für Bestandskunden. Slots,
Tischspiele und sogar Live-Casino-Optionen sind hier
reichlich vorhanden. Wenn du mich fragst,
bietet dieses Online-Casino eine erstaunliche Kombination aus Spielauswahl und Benutzerfreundlichkeit, die
man nicht überall findet. Wunderwins bietet eine beeindruckende Vielfalt
an Spielen.
References:
https://online-spielhallen.de/lex-casino-erfahrungen-ein-umfassender-uberblick-fur-spieler/
We’ve examined the legality of safe online casinos in Australia from three angles
– what the law says, how it applies to you, and how it can impact your gaming experience.
If you want to make the most of your gaming experience at AU online
casinos, the worst thing you can do is chase losses.
Popular e-wallets such as NeoSurf, Interac, and Skrill are used to make deposits and receive payouts at
AU online casinos. Leading AU online casinos accept multiple forms of cryptocurrency (BTC, BCH,
LTC, ETH, etc) for deposits and withdrawals. You can use
your debit or credit card to make deposits at Aussie
online casinos. Live dealer table games are designed to bridge the gap between land-based casinos and online gaming.
PlayStar Casino offers a sleek and mobile-focused experience for players in New Jersey.
Hard Rock Bet Casino features a variety of thrilling online
games for new and established customers to enjoy. The 24-hour clock starts with your first real-money wager – not your
bonus spins. Fanatics Casino stands out as perhaps the most exciting new online
casino launch in recent years. We recommend that you always
read the full terms and conditions of a bonus on the respective casino’s website before playing.
Our goal is to provide accurate and up-to-date information so you, as a player, can make informed decisions
and find the best casinos to suit your needs.
References:
https://blackcoin.co/aussie-play-casino-complete-guide-for-australian-players/
Perodua typically omits this – it’s touch once on the driver’s side to
unlock it, touch twice to unlock all doors. The Toyota’s door cards are also different
– note the chunky door pulls like what we see in the Ativa/Rocky/Raize; this
is not present in the Alza. A black roof for a two-tone
look is exclusive to the Toyota. Before you answer, get a good look
at both cars in the metal.
Of all the AV-exclusive items, the dual-tone cockpit might be easiest and cheapest to implement,
but it makes a huge difference – compared to the H,
the AV’s dashboard feels more special, more premium even. The X50 Flagship’s red dash top is an example, and check out this previous-gen HR-V’s wine red cabin.
Another little luxury is the EPB with auto brake hold. Note that this new head unit is exclusive to the AV – the H uses the same
one from the Ativa while the X has no touchscreen. I also like that the Alza’s seat
goes low enough, and you don’t feel like you’re “sitting on the car” as
you do in a Myvi G3.
References:
https://blackcoin.co/cryptologic-casinos-trusted-gaming-software-since-1995/
online casino mit paypal
References:
https://www.ranfrakonkyotanhj.site/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=199
online casinos that accept paypal
References:
http://www.leeonespa.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=7997
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?