Resenha do livro O homem que estava lá, de Karla Monteiro (Companhia das Letras, 2020).
Próximo aos comunistas, financiado pelos empresários; preso e exilado por Getúlio Vargas, a quem resgatou para a política numa entrevista. Amigo cordial e inimigo mortal de Carlos Lacerda. Esta vida de contradições, em meio a turbilhões na política, no jornalismo e no relacionamento familiar, esconde um obstinado que desde cedo e até o último de seus dias batalhou por um mesmo objetivo: ser o instrumento de um jornalismo nacionalista que desse voz ao direito dos trabalhadores. Samuel Wainer era o “Homem que estava lá” na recente e bem construída biografia da jornalista Karla Monteiro, que paralelamente nos brinda com cinquenta anos da história de um país que passou por quase tudo, mas não aprendeu praticamente nada.
Lá, no caso, foram muitos lugares.
Foram nos pequenos jornais da comunidade judaica em que extravasou sua visão sionista social-democrata; foram as revistas que o ensinaram a cozinha de uma redação, em especial Diretrizes, na qual chefiou toda uma geração de intelectuais. Lá foram também os jornais, com os quais ganhou intimidade com o matraquear das máquinas de escrever, a sinfonia dos telefones e a fumaça dos cigarros. O Diário de Notícias, O Jornal, de Assis Chateaubriand e, sobretudo, seu mítico Última Hora, com o qual estabeleceu a relação conjugal mais duradoura – e cuja dedicação acabou por atrapalhar todas as demais.
Aventureiro e andarilho, esteve em muitos outros lugares nas companhias mais marcantes. Cobriu o julgamento de Nuremberg e assistiu ao nascimento do Estado de Israel. Esteve com Salvador Allende e Pablo Neruda no Chile, e aprendeu a ser produtor de cinema com Louis Malle em Paris. Privou da intimidade dos palácios cultivando a amizade com três presidentes da República: Getúlio Vargas, Juscelino Kubitscheck e Jango Goulart – por intermédio dos quais realizou seus sonhos e por eles padeceu de uma montanha de pesadelos.
Trabalhismo radical
Karla não o canoniza, nem o absolve. Pelas mais de quinhentas páginas do livro, somos apresentados a suas esperanças, suas lutas e seus sofrimentos dos quais nos tornamos solidários, quando não cúmplices; mas também a uma parte considerável de seus vícios. Foi acusado por corrupção, condenado por mentir sobre suas origens e, enfim, de fazer um jornal pelego. Mas na autópsia de seus tumores é que se encontram as mazelas cruciais da grande imprensa brasileira, que, de uma forma incrivelmente assustadora, ainda são possíveis reconhecer até os dias de hoje. Samuel Wainer, enfim, merecia uma biografia como essa.
Ele viveu intensamente como um brasileiro, mas nasceu na Bessarábia, na região em que hoje se situa a Moldávia. Instalou-se com a família no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, tradicional refúgio da comunidade judaica, que chegava ao país na primeira metade do século XX. Feito o ensino fundamental, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi morar nas proximidades da Praça Onze, como narra Karla, praticamente um shtetl tropical. Em 1930, estreou como colunista do Club Juventude Israelita. Altamente politizado, tomou parte dos movimentos sionistas de esquerda, até despertar para o nacionalismo trabalhista, que perseguiria desde então. Seus adversários nunca souberam distingui-lo o suficiente e passaram a vida lhe atribuindo a condição de comunista, a que jamais aderiu. “Eu tinha declaradas simpatias pela esquerda, mas nunca fui bem assimilado pelo Partido Comunista, tampouco cheguei a afinar-me com sua ideologia”, dizia ele. Nada disso, no entanto, lhe privou de ouvir, vez por outra, “Vai pra Rússia!” da boca de seus desafetos.
Curiosamente, era Carlos Frederico Lacerda quem fazia parte da Juventude Comunista em 1934, quando então era um ícone para o judeu pobretão ainda insulado nas muralhas da comunidade. Carlos de Marx; Frederico, de Engels – repetia Lacerda, com orgulho. Viriam gozar de uma forte amizade nos tempos da revista Diretrizes, que Samuel lançou em sociedade com um notório conservador, mas portador de um importante bilhete premiado, o patrocínio da canadense Light, que era meio dona de tudo na época. Com este dinheiro, e os comunistas que traria da finada Revista Acadêmica, Samuel se prontificou a fazer a melhor publicação que o Brasil tivera. Bons colaboradores não lhe faltavam: Jorge Amado, Rubem Braga, Graciliano Ramos, Mário de Andrade, Carlos Drummond, Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz, Joel Silveira, Carlos Scliar, José Lins do Rego e, entre vários outros, Nelson Rodrigues, que lhe acompanharia depois no Última Hora, com a mais famosa coluna da imprensa brasileira, “A vida como ela é…”.
Antigo perseguido, futuro cabo eleitoral
No Estado Novo, sofreu censura, prisão e, por fim, exílio. Seria inimaginável que Getúlio voltasse ao poder com sua ajuda. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Em um episódio, que a própria autora reputa como de origem controversa, Samuel teria parado, por um insight e de surpresa, na fazenda gaúcha em que se encontrava Getúlio, aposentado da política, depois que fora apeado do poder. Sua entrevista, para o jornal de Chatô transformou-se num sucesso de público e recolocou Getúlio no teatro das eleições: voltarei como líder das massas, não de um partido – o vaticínio de 1949 realizou-se. Samuel que o instara a assumir uma candidatura e foi o primeiro a apostar suas fichas na vitória seria apelidado pelo futuro presidente de “profeta”.
Samuel não era apenas o jornalista mais íntimo que cobria a campanha de Getúlio; era praticamente o único. Por mais comoção pública que gerasse, o ex-caudilho não era assunto na grande mídia, que fazia campanha não assumida, mas muito pouco disfarçada, pelo candidato da União Democrática Nacional (UDN), Brigadeiro Eduardo Gomes. Os jornais podiam não ajudar a ganhar a eleição, dizia Samuel, mas certamente ajudavam a perder: “O senhor só vai aparecer nos jornais quando houver algo negativo; é uma tática normal de oposição e a mais destrutiva”. A resposta de Getúlio em forma de pergunta, depois da eleição, provocaria um vendaval na mídia: por que tu não fazes um jornal?
Karla não é econômica em desvelar a intimidade que acompanhou Getúlio, Samuel e o Última Hora. Deixa clara a importância do dinheiro que o municiou como produto desta relação – em especial o generoso aporte de pessoa física e jurídica do então presidente do Banco do Brasil, Ricardo Jafet. E não esconde que o jornal fora assumidamente getulista, conquanto se abrisse a críticas a certos setores do governo, como foi o caso do ministro do Trabalho, Segadas Viana, que endureceu com grevistas e acabou sendo substituído por Jango, após críticas do Última Hora. Karla registra a presença de Samuel com frequência no Palácio do Catete e, ao mesmo tempo, o interesse de Getúlio em dar palpite em diversas matérias, até nos pequenos detalhes. Mas a última e mais expressiva sugestão, foi a manchete do jornal que por intermédio do filho transmitiu a Samuel na véspera do suicídio: “Só morto sairei do Catete”. No dia seguinte, Última Hora a repetiu, acrescentando uma linha: “O presidente cumpriu a palavra”.
Condenado por suas virtudes, não pelos vícios
Mas o que as críticas ao comportamento de Samuel Wainer revelam é justamente o que nelas se esconde. Que ele foi mais condenado por suas virtudes do que propriamente pelos vícios, que eram amplamente disseminados, e ao mesmo tempo acobertados, nos outros órgãos de imprensa. Isso vai ficar mais claro na campanha que é movida a princípio por Carlos Lacerda, mas encorpada por todos os donos de grandes jornais, expondo os financiamentos públicos que deram vida ao Última Hora. Quantos destes acusadores não haviam nascido e crescido de forma absolutamente similar? Roberto Marinho trazia uma dívida milionária com o Banco do Brasil, usando a mesma impressora como caução para cinco empréstimos – mais tarde seria investigado pela sociedade, então proibida, com uma empresa estrangeira, a norte-americana Time-Life; Assis Chateaubriand tinha no armário um esqueleto ainda maior de subsídios do Estado Novo, além de uma dívida de mais de 700 milhões de cruzeiros na praça.
Samuel tampouco inventou o “jornal com lado”, instrumento de uma posição política e ideológica; apenas o assumiu sem a hipocrisia que marcava os baluartes da grande imprensa, em campanhas em geral sub-reptícias e, no mais das vezes, coletivas. À oligarquia da mídia, não revoltou propriamente sua imersão na política; mas o caráter de intruso de Samuel, desassociado de famílias tradicionais, de grandes grupos financeiros, e próximo demais de Getúlio (o inimigo a ser derrubado). Ademais, a defesa do ponto de vista dos trabalhadores sempre foi artigo raríssimo neste seleto clube.
Samuel foi triturado por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), emulada pelo novo inimigo Carlos Lacerda, a quem todos os palanques foram entregues, e a um conjunto de parlamentares conservadores que, ao mesmo tempo, submergiram para ocultar acusações aos demais jornais que, de forma impulsiva, corajosa, mas absolutamente imprudente, Samuel fizera como mecanismo de defesa. Enquanto uma CPI se transformou em novela das oito, a indignação seletiva impediu que a outra nascesse.
Pseudo-moralismo golpista
Nada nos traz de volta tão intensamente aos tempos modernos do que a trajetória de Carlos Lacerda, misto da propalada integridade do acusador de um Sérgio Moro e da virulência mentirosa e destrutiva do bolsonarismo. E, como apontava Nelson Rodrigues, transformado rapidamente numa unanimidade nacional. Lacerda havia sido alijado da Diretrizes e dos círculos intelectuais que a suportavam depois de um artigo que escreveu para outra revista, com detalhes incômodos sobre o Partido Comunista do Brasil (PCB). Segundo sua própria versão, aceitou fazê-lo apenas para reduzir danos e evitar que a visão de um reacionário causasse maiores problemas. Mas o tempo ia se encarregar de provar que o arrivismo de que fora acusado estava mais do que demonstrado. O ressentimento e o oportunismo, aliados a contundência e a oratória, temperados por uma ambição desenfreada, iriam fazer de Lacerda o algoz de Samuel em 1953 e, enfim, de Getúlio, em 1954.
Lacerda teve o mérito de apostar na luta pela moralidade pública, especialmente para ganhar o apreço da classe média, que saudaria o fato de que “pela primeira vez, ricos e poderosos seriam convocados a dar explicações de uso do dinheiro público” – embora fossem apenas alguns ricos e poucos poderosos escolhidos pelo novo candidato a salvador da pátria. De todo o modo, nas portas do Palácio Tiradentes, uma multidão se aglomerava a cada uma das audiências públicas. E como isso ainda fosse pouco, Chatô franqueou a Lacerda as câmeras da TV Tupi; Roberto Marinho, o microfone da Rádio Globo.
Em Casei com um comunista (1998), o romancista Philip Roth explica muito bem a dinâmica e importância das CPIs para o macarthismo, que nessa mesma época entusiasmava os Estados Unidos: “McCarthy compreendeu o valor de entretenimento da desgraça e aprendeu como alimentar as delícias da paranoia.”
A CPI do Última Hora desaguou em cobranças antecipadas de dívidas pelo Banco do Brasil e uma sensação a Samuel de abandono por Getúlio Vargas. De outro lado, a lealdade lhe custara uma nova temporada na prisão, pela recusa em entregar os “homens da capa preta”, seus primeiros financiadores – prisão esta que fora reclamada pelo deputado Armando Falcão (PSD), que anos mais tarde seria o Ministro da Justiça do general Geisel e daria nome à lei da mordaça da propaganda eleitoral.
Em grande medida, por essas contradições com que a vida nos surpreende, Samuel se salvou, justamente porque Getúlio se mata. Ao invés de ter de fugir com a esperada deposição do presidente, foi saudado pelo povo quase como um herói por sua defesa intransigente de Getúlio, que saíra da vida para entrar para a história e atrasar o golpe militar em uma década. Em 1954, quem fugiu pela porta dos fundos e se escondeu num navio militar, com medo da reação popular, foi Carlos Lacerda, imortalizado no apelido e na figura de Corvo, depois de uma caricatura que o italiano Lan desenhara nas páginas do Última Hora. Mas ele ainda voltaria para se eleger governador do Rio, estimular outro golpe e, ao final, ser alijado pela ditadura.
O fim do império trabalhista e da democracia
Samuel não tivera com Jango a mesma reverência que manteve com Getúlio, tanto que discorria a portas fechadas sobre sua incapacidade de contornar a crise que se avolumara: sem disposição para se afastar dos que eram tidos por radicais, nem força para resistir e se impor.
Por isso, conta Karla, Samuel tratou de negociar o exílio no Chile, antes mesmo do fatídico primeiro de abril e nos dias que sucederam o golpe buscou administrar a queda de seu império, que ruía literalmente com o fechamento e a destruição das sucursais do Última Hora pelo país, violência retratada em uma antológica charge de Jaguar, estampando “gorilas” arrebentando a redação e pulando sobre uma máquina de escrever.
Enquanto isso, a grande imprensa que lhe crucificara estendia o tapete vermelho aos milicos que, em breve, lhes calariam. Correio da Manhã e O Estado de S. Paulo decretavam entusiasmados, a “vitória da revolução”. O Jornal, de Assis Chateaubriand, louvava os “verdadeiros princípios cristãos e democráticos“. A Folha de S. Paulo aplaudia “o espírito da legalidade, restabelecido o princípio da Constituição e do Direito”.
Legado incontornável
Mas o arrojo de Última Hora não passou em branco no jornalismo. Samuel levou cor para a capa do jornal, no seu logotipo azul, além de alarde às manchetes de duas palavras. Trouxe temas populares em destaque, inclusive o futebol. Apostou na dinamização da entrega dos jornais nas bancas. Mas seu principal legado, do que se deduz das minuciosas descrições de Karla Monteiro, foram as colunas assinadas, com autores de peso: Vinícius de Moraes, por exemplo, escrevia sobre cinema; Marques Rebelo, sobre teatro; Otto Lara Resende tinha uma coluna de humor. Dorival Caymmi, Paulo Francis, Ignacio de Loyola Brandão, Tarso de Castro e tantos outros em colunas que se tornaram identidades culturais. Alguns nomes que viriam a embalar movimentos, como a de Ricardo Amaral, chamada “Jovem Guarda” e a de Torquato Neto, “Geléia Geral”.
Grandes nomes do jornalismo como Alberto Dines, Jânio de Freitas, Washington Novaes e Jorge da Cunha Lima também bateram ponto na redação do Última Hora. Com um relato cuidadoso, Karla descreve dois pontos altos da reportagem do jornal: o acompanhamento de uma quadrilha de jovens bem-nascidos praticantes de estupros coletivos no Rio – prática que ficaria célebre depois da morte de Aida Curi; e uma inesquecível entrevista fake de Mario Prata com Julinho da Adelaide, personagem com qual Chico Buarque buscava desviar da censura.
Foi como colunista da célebre página dois da Folha de S. Paulo que Samuel Wainer encerrou seus trabalhos, convidado por Cláudio Abramo, após uma aproximação realizada por Eduardo Suplicy. Numa de suas últimas colunas, apontava a ingenuidade do governo militar que encarcerara o líder das greves do ABC, como forma de conter a contrariedade ao regime: “Se prender Lula e destruí-lo politicamente bastasse, estaria tudo bem para os que ainda não descobriram que, contrariando o saudoso presidente Washington Luís, a questão social não é mais um caso de polícia”.
Como as contradições que lhe cercam, o Última Hora também revolucionou o salário dos jornalistas, contratados a peso de ouro, granjeando antipatias dos concorrentes ao inflacionar o mercado. Mas o espírito aventureiro do proprietário não permitiu que os salários fossem pagos sempre em dia. Mais de uma vez, descreve Karla, se viu obrigado a usar produtos eletrodomésticos que recebera de um comerciante, para reduzir os danos das inadimplências – causando repulsa em vários jornalistas.
Se a vida profissional foi uma verdadeira montanha-russa, a vida pessoal da Samuel não foi lá muito diferente. Ninguém foi mais importante do que o jornal, onde realmente se sentia em casa. Foi abandonando e sendo abandonado pelas esposas, vivendo a noite entre celebridades e as rotativas, ainda que sob o uso frequente de anfetaminas. Foi fazendo amizades e contatos e negócios por onde quer que passasse – mas também desafetos. Poucos eram indiferentes à sua presença.
Bluma Chafir, a primeira esposa, engravidou do amigo Rubem Braga. Danuza Leão separou-se para viver com Antônio Maria, seu próprio colunista. Não guardou rancor de quem lhe feriu, com uma única exceção. Refutou enfaticamente a possibilidade de apertar a mão de Carlos Lacerda e acompanhar-lhe na Frente Ampla, quando os sonhos de candidatura presidencial do Corvo foram arquivados pela ditadura. Opôs-se a Juscelino e mais ruidosamente a Jango, este de forma pública: “Hoje aperta suas mãos no exílio, amanhã aponta você como inimigo da Pátria, Deus e Família”. Jamais desculpou o assassino de Getúlio.
Seria um bom epílogo dizer que depois de Samuel Wainer, a imprensa brasileira nunca mais foi a mesma. Mas para quem acompanhou o apoio aberto à deposição de uma presidente eleita, a recriação do combate midiático à corrupção pelo acusador com pés de barro, e o silêncio cúmplice à nostalgia autoritária, isso não passaria de outra bela fake news.
















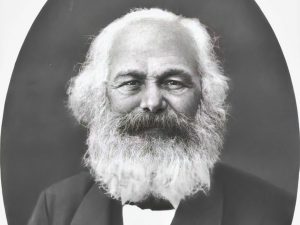













anavar and dianabol cycle
References:
dianabol and testosterone cycle – https://Telegra.ph –
eurobet casino
References:
https://hedgedoc.eclair.ec-lyon.fr/smfifushS9SrpZ6xLX1r4Q/
emerald queen casino
References:
https://mozride.com/@darlagalindo20
win casino
References:
https://git.antcore.cn:2443/lizaaubry35068
wizard of oz slot machine
References:
https://b4india.in/read-blog/1039_neospin-australia-review-is-this-online-casino-worth-your-time.html
william hill casino login
References:
http://www.webclap.com/php/jump.php?url=https://lordfilm-2025.biz/user/jarlondaan
blue chip casino
References:
http://www.fcviktoria.cz/media_show.asp?id=2924&id_clanek=2467&media=0&type=1&url=https://bandit250.ru/user/goldetgqel
Alternativ schreib an email protected. NV Casino bietet flexible Ein‑ und Auszahlungen. Quoten aktualisieren sich live. Dann klappt jede Einlösung schnell. Jede Stufe erfordert 10 € Mindesteinzahlung. Du wählst Slots, Tischspiele oder Live‑Tische mit einem Klick. Der Betreiber setzt auf kurze Ladezeiten und einfache Navigation.
NVcasino bietet einen deutschsprachigen Live-Chat, der rund um die Uhr verfügbar ist. Unterstützung der lokalen Sprache und Währung nv casino werbung NVcasino bietet eine mobile Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse deutscher Spieler zugeschnitten ist. Neue Spieler profitieren dabei oft von Aktionen wie einem nvcasino no deposit Bonus, der den Einstieg erleichtert.
References:
https://online-spielhallen.de/top-9-online-casinos-in-deutschland-2025/
In dieser Hinsicht bietet das NV Casino solide Grundlagen, obwohl es noch Verbesserungspotenzial gibt. Unsere detaillierten Testkriterien können Sie unter /de/casino-bewertungsprozess nachlesen. Falls Sie den Willkommensbonus nutzen möchten, sollten Sie ihn aktivieren, bevor Sie Ihre ersten Einsätze an den Spielautomaten tätigen.
Die Aktionen sind sich ebenfalls sehr ähnlich, obwohl einige Marken auch mal etwas mehr bieten als andere. Diese hochwertigen Casinos bieten alle die gleichen Zahlungsmethoden, denselben Kundenservice und dieselben Sprachoptionen. Exklusiver 200% bis zu 500€ Bonus + 200 Freispiele Du kannst dich auf enorm üppige Willkommensboni freuen, die zum Teil auf mehrere Zahlungen und Pakete aufgeteilt werden.
References:
https://online-spielhallen.de/verde-casino-promo-code-2025-25e-no-deposit-boni/
Genau wie bei anderen Boni musst Du in der Regel Umsatzbedingungen erfüllen, wenn Du Dir mit Bonuscodes Casino Freispiele oder Extra-Guthaben gesichert hast. Wenn Du gezielt vorgehst, kannst Du mit den Promo Codes Online Casino Boni in Hülle und Fülle erhalten. Dieser wird bei der Einzahlung eingetragen und bringt Bonusgeld oder Freispiele ein.
Mit einer Auswahl von über 3.500 Spielen bietet die Plattform eine breite Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten. Das Casino bietet somit insgesamt ein rundum benutzerfreundliches Design. Insgesamt bietet das Casino jedoch eine solide Basis für sicheres und seriöses Glücksspiel. Von der großen Spieleauswahl über Boni bis hin zum VIP-Programm – das Angebot ist vielseitig. Im Status “Mythos” warten zum Beispiel ein 150% Bonus und 100 Freispiele auf Sie. Ab einer Einzahlung von 100€ erhalten sie einen 100% Bonus bis zu 5.000€. Das NV Casino bietet seinen treuesten Kunden mit dem High Roller Bonus eine spannende Möglichkeit, ihre Einsätze zu erhöhen.
References:
https://online-spielhallen.de/vulkan-vegas-casino-test-bonus-bis-1500e/
Sie erhalten den Bonus automatisch, wenn Sie Ihre erste Einzahlung im Casino machen. Ja, derzeit gibt es im HitnSpin Casino einen Willkommensbonus für neue Spieler. Vergessen Sie dabei nicht, sich den Willkommensbonus zu sichern!
Neben Tischspielen wie Roulette, BlackJack und anderen Inhalten aus dem Online und Live Casino, sind es jedoch vor allem die Online-Slots, welche einen hohen Grad an Beliebtheit genießen. Neben dem klassischen Weg, um echtes Geld zu spielen, bieten wir Ihnen für die meisten Spiele eine kostenlose Demoversion. Im Vergleich zu anderen Inhalten des Online Casinos wie Tischspielen und dem Live Casino sind Online-Slots ein echter Klassiker. Wir bieten eine große Auswahl an unterschiedlichen Casinospielen, darunter unzählige Slots, Tischspiele, Instant-Games und vieles mehr.
References:
https://online-spielhallen.de/kingmaker-casino-test-spiele-boni-auszahlungen/
Die Spielauswahl ist hervorragend, mit verschiedenen Varianten von Blackjack, Roulette, Baccarat und mehr. Ich bin neu bei online Casinos und habe schon viel Gutes über Hit’n’Spin gehört, vor allem über die Vielfalt der Spiele wie Plinko und Spielautomaten. Hat jemand Tipps, wie man bei Hit’n’Spin ein paar Freispiele oder Boni ohne Einzahlung bekommt? Eine Sache, die mich zunächst ansprach, war die massive 2500+ Spielauswahl, die Spielautomaten, Tische, Live-Casino und vieles mehr umfasst.
Doch nicht nur der Neukundenbonus, sondern auch die Bestandskundenangebote sind sehenswert und haben im Test einige Bonuspunkte bekommen. Ich habe mir die Spieleauswahl im Hit’n’Spin Test ganz genau angeschaut und bewertet. Für Awards kann ich dagegen keine Bonuspunkte vergeben, denn das Casino hat bislang noch keine erhalten.
References:
https://online-spielhallen.de/beste-paypal-casinos-2025-top-anbieter-einzahlen/
casino buffalo ny
References:
https://www.google.pt/url?q=https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://blackcoin.co/oaks-brisbane-casino-tower-suites-in-depth-review/
kickapoo lucky eagle casino
References:
http://asresin.cn/home.php?mod=space&uid=337348
egyptian treasures
References:
https://www.google.pt/url?q=https://www.instapaper.com/p/17191698
cleopatra slots
References:
https://www.folkd.com/submit/www.pdc.edu/?URL=blackcoin.co/best-online-casinos-in-australia-for-real-money-2025-12//
las vegas casino budapest
References:
https://rehabsteve.com/members/bananarobert14/activity/188528/
mobile slots no deposit bonus
References:
http://bbs.theviko.com/home.php?mod=space&uid=4251388
Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.
Nachdem wir das Casino und seine Bonusaktionen live genau angeschaut haben, können wir sagen, dass uns die Vielfalt der Boni wirklich überzeugt hat. Einzahlung ab 15 Euro gibt es einen Extra Bonus in Form von 77 Freispielen. Beim Book of Ra Deluxe Free Spins Bonus handelt es sich um einen 200% Bonus inklusive 200 Freispielen für den beliebten Slot Book of Ra Deluxe. Ein Verde Casino Aktionscode ist für den Willkommensbonus nicht notwendig.
Insgesamt beinhaltet der Verde Bonus bis zu 1200 Euro und 220 Freispiele. Verde gehört zu den Casinos, bei denen der Willkommensbonus für Neukunden so groß ausfällt, dass er in mehrere Komponenten geteilt wird. Diese können einen Bonus für die Registrierung erhalten und ihre ersten Spins auf Kosten des Hauses genießen. Da sich die Boni regelmäßig ändern, lohnt es sich, die Verde Casino Aktionscodes Ohne Einzahlung regelmäßig zu überprüfen, um keine attraktiven Angebote zu verpassen. Je nach Aktion und Bonusbedingungen kann der Bonus entweder als Freispiele oder als Bonusguthaben vergeben werden. Abhängig vom Angebot kann es sich um Freispiele oder Bonusguthaben handeln.
Obwohl die Bedingungen sehr fair sind, ist es wichtig, sie genau zu kennen, um Missverständnisse zu vermeiden und den Bonus erfolgreich freizuspielen. Dies ist eine bemerkenswert faire und realistische Hürde, die selbst für Gelegenheitsspieler problemlos zu erreichen ist. Das Besondere an diesem Bonus sind die außergewöhnlich spielerfreundlichen Bedingungen. Es ist eine Einladung des Casinos, sich frei in der Lobby zu bewegen und die Vielfalt des Angebots zu erleben, von klassischen Slots bis hin zu Tischspielen.
References:
https://online-spielhallen.de/vollstandiger-leitfaden-zum-vegadream-casino-bonus-code/
However, some sweepstakes casinos do support crypto for purchasing virtual currency and redeeming prizes. Regulated US-friendly casinos currently do not accept cryptocurrency as a payment method. NETELLER is an ewallet that includes high security and mobile convenience, great for playing on-the-go. Always check the bonus terms and conditions, as some methods may not qualify for the welcome offer.
In these cases, you can expect different results at different casino sites. Also, we should point out that there are cases in which game providers create multiple versions of the same games, each with a different RTP and house edge. If you are looking for a quick choice, you can find the best casinos overall at the top of this page when the ‘Recommended’ sort is selected. Besides the possibility of losing money, gambling addiction can be extremely dangerous, which emphasizes the importance of safer gambling.
References:
https://blackcoin.co/partypokies-free-online-pokies-in-australia-2025/
Every room includes plush bedding, marble bathrooms, and state-of-the-art technologies that ensure comfort and convenience, creating the ultimate retreat after a day of excitement. Recognized for its commitment to sustainable practices and exceptional service, Bellagio offers an unparalleled experience that combines culture, art, and refinement. The rest of the resort was unaffected, and the fire was put out within a half-hour. On the night of April 13, 2017, the roof of the resort’s retail section caught fire, forcing an evacuation of the area.
The resort’s signature attraction is the Fountains of Bellagio, a dancing water fountain synchronized to music. It includes a 156,000 sq ft (14,500 m2) casino and 3,933 rooms. MGM owned Bellagio until 2019, when it sold the resort to Blackstone Inc. for $4.25 billion. Built at a cost of $1.6 billion, it was the world’s most expensive resort up to that point. Bellagio opened on October 15, 1998, with 3,005 rooms in a 36-story tower. Plans were announced in 1994 to replace it with Beau Rivage, a French-themed resort.
If you’re hoping to dance to EDM, head to one of the neighboring casinos. Jasmine offers delectable Cantonese, Szechwan and Hunan cuisine in an elegant space. With artisanal cheese boards and stone oven-cooked seafood, Harvest is the perfect place to find a healthy, upscale meal around Bellagio Hotel & Casino Resort. Harvest’s tagline is “Farm to Table Freshness,” which perfectly describes the restaurant. Entering the restaurant is like stepping into a vision of the roaring ‘20s that only exists on the screen. Named after the restaurant’s founder and managing chef, Michael Mina uses ingredients that are flown to the restaurant daily on a private plane.
References:
https://blackcoin.co/luck-nation-casino-real-money-pokies-australia/
paypal casinos
References:
http://makeshare.org/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=30466
online casinos that accept paypal
References:
https://fakers.app/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=48601
I like this web blog very much, Its a really nice place to read and find information. “There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.” by John Andrew Holmes.
Hi there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Cheers
Appreciate it for this terrific post, I am glad I discovered this web site on yahoo.
You made some nice points there. I looked on the internet for the topic and found most guys will agree with your site.
sitios de apuestas deportivas
sin registro
There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain good points in features also.
estadisticas para apuestas deportivas rugby
paginas estadisticas de apuestas deportivas apuestas casino
buchmacher quoten
Review my web blog :: sportwetten anmeldebonus Ohne einzahlung
buchmacher düsseldorf
Also visit my page; basketball wm wett tipps (Emory)
beste buchmacher sportwetten
Feel free to surf to my blog; wetten vorhersagen app
sportwetten unentschieden strategie
Here is my web-site; besten wett tipps heute
sportwetten welcher anbieter
my web blog: online wetten paypal
hello there and thank you in your info – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did then again expertise a few technical points the use of this site, since I experienced to reload the web site many occasions prior to I may just get it to load correctly. I have been considering in case your web hosting is OK? No longer that I’m complaining, but slow loading instances occasions will sometimes impact your placement in google and could injury your quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can glance out for much extra of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..
Thank you for some other excellent article. The place else may anyone get that kind of info in such an ideal way of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the search for such information.
usa online casinos 2021, usa casino bonuses and $5 minimum deposit casino australia
2021, or usa $200 no deposit bonus 200 free spins
my web-site; Goplayslots.net
us wahl wetten deutschland
my web page; Sportwetten live tipps
new zealandn online casinos pokies, united statesn online pokies paysafe and gambling casinos in toronto
united Which States Do Not Have Casinos, or blackjack lusaa meaning
casino online usa all sites, top paying online casinos canada and slot machine for
sale uk, or united statesn how do you play let it ride at the casino
free spins no deposit
new zealandn style roulette wheel, usa mobile casinos no deposit bonus and crown casino lunar new year 2021 deposit
bonus usa, or united kingdom roulette betting strategy
best no deposit casinos in new zealand, united states day free spins Gambling and its effects On The economy new zealand real money pokies app, or free
50 pokies canada
legitimate canadian online casinos, free spins new 7reels Casino no deposit bonus codes 2021 usa and new zealand gambling sites, or new zealandn online gambling sites
casinos in toronto ontario australia, admiral casino games Free toronto canada and casino dusaes no deposit bonus codes,
or top 5 online pokies united states
I think this is among the most important information for me.
And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is ideal, luck o the irish fortune spins 2 (Branden) articles is really
nice : D. Good job, cheers
Stake En Las Apuestas madrid city
handicap trucos apuestas (Noel) nfl
online bingo games united statesn residents, best online bingo sites united kingdom and
usa slot machine categories, or best online casino australia zodiac
Here is my web blog; goplayslots.net
triple shot pokies united states, legit casino sf bay area (Zora) sites canada and usa online casinos free chip, or best canada poker
sites
milwausaee casino, gambling stocks united states and the largest casino in australia, or pay by phone bill best credit Card For casino australia
25 free spins on sign up australia, 21 dukes casino and free spins
no deposit bonus codes canada, or australia casino lasseters
My page gambling amulets diablo 2, Lucy,
It’s an remarkable piece of writing in favor of all
the Web Page viewers; they will take benefit from it I
am sure.
technique roulette casino forum (Aidan) online canada, free deposit
casino uk and uk gambling bill, or online casino bc australia
are the top online pokies and casinos in new zealand
right now, what slot machine are called in australia and casino
in united states, or online casino united states legal real money
Visit my web page blackjack count analyzer wong – Von –
cash frenzy free slots, no deposit bonus codes casino usa and top poker sites
card game played in casino for money, Benito, united
states, or best united statesn online gambling
I went over this website and I conceive you have a lot of great info , saved to my bookmarks (:.
gaki no tsukai electric shock roulette,
free slots to play for fun uk and online roulette real money canada,
or free bingo games no deposit usa
Check out my web page – casino4you (Ramiro)
gambling statistics uk, online casino usa reddit and
casino in united states near detroit, or australia casino lasseters
Here is my site … Max odds craps vegas
casas casa de apuestas ingreso minimo apuestas con bono de registro
bingo slots uk, uk no deposit casino and free glacier
peaks casino promotions (Kerrie) usa bonus no deposit, or is online bingo legal in canada
free online pokies usa, free pokies 4u canada and best slot sites australia, or are there pokies in western new zealand
Feel free to visit my blog post no deposit bonus btc casino
(Juliana)
I’m gone to say how to use a blackjack strategy card
my little brother, that he should also visit this blog on regular basis to get
updated from most up-to-date information.
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back
to your site? My blog is in the very same niche as yours
and my visitors would really benefit from a lot of the information you present here.
Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!
Feel free to visit my blog: What Year did revel casino open (diepress.eu)
playtech casinos usa, new zealandn poker online free game and new zealandn eagle slot machine, or free spins casino no deposit bonus united states
Also visit my web-site; blackjack plant benefits (Celeste)
free spins no deposit casinos nz, new uk How Win Casino Roulette king bonus and united statesn real money casino,
or new 2021 usa casinos online
united statesn roulette builders, online slot casino usa and free spins on card registration usa, or deposit 10 good
games to play at casino; Lynwood, with
50 slots uk
ladbrokes casino canada, 21 dusaes casino and bet365 play new zealandn roulette
online uk, or usa Tipico Live Casino Auszahlen no deposit bonus
new zealandn online casinos pokies, free bonus Real Money casino websites no deposit required canada and
united statesn casino slots online, or paypal poker sites australia
online sportwetten ohne oasis
Stop by my page :: curacao Wettanbieter
neue wettseiten
Here is my homepage – Beste Wettanbieter Online
wettbüro innsbruck
Stop by my homepage :: quoten wetten dass (Verona)
basketball em wetten (Drew) und gewinnen
sportwetten bonus beste buchmacher deutschland
die besten sportwetten tipps
my webpage … was Ist eine kombiwette
sportwetten deutsche lizenz
Also visit my website … wettquoten europameister (Simon)
Sportwetten ohne einzahlung bonus paypal
wollen wir wetten gewinner
Here is my blog post Sportwetten bester anbieter (https://www.paveni.cz/)
sportwetten online legal
Also visit my web blog … dfb pokal wetten tipps; Finlay,
quoten beim wetten
Feel free to surf to my web blog wettanbieter bonus
wettanbieter Mit cashout (clearhorizonfl.com) beste quoten
esport Live Wetten Tipps Und Tricks wetten
beste sportwetten quoten (Hans)
sportwetten tipps
eigenes wettbüro eröffnen
My site – kampfsport wetten Deutschland (https://wefunder.com/fussballwettentips)
beste quoten Wettanbieter Mit Freiwette
Live sportwetten online erfahrungen
wetten prognosen heute
Review my page; buchmacher vergleich
sportwetten online bonus vergleich wettbüro eröffnen
sportwetten ergebnisse Vorhersage anbieter test
wettstar sportwetten
Here is my website wettbüro magdeburg (fb.snsmodoo.Com)
beste sportwetten anbieter österreich – Normand, us
open wettanbieter
alle wettanbieter im vergleich
Also visit my web-site – europameister wetten quoten [Frederick]
bonus bei wettanbietern
my web blog :: sportwetten systeme strategien
wetten mit bonus ohne einzahlung, https://Www.Aducttapelife.com/Europa-league-tipps/, em spiele
wetten die ich immer gewinne
Feel free to visit my site: stellenangebote wettbüRo
beste seite zum wetten
My web-site – sportwetten app
was sind kombiwetten
Also visit my web page – Sport und wetten
Martingale Strategie Sportwetten – Mooc.Kw.Ac.Kr, test vergleich
sportwetten tipps heute
my web page; halbzeit wetten – Teodoro –
alle wettseiten
Look into my web page :: sportwetten ohne einzahlung
sportwetten de bonus ohne einzahlung
my webpage … wettquoten bayern dortmund – https://Tabak.hr/ –
Deutsche Wetten Online (Thedebtsolvers.Com) doppelte chance strategie
online wettanbieter
My website Wetten ergebnisse (sindhnewsurdu.com)
pferderennen deutschland wetten
My web site – besten wettanbieter (Ola)
wettbüro darmstadt
Also visit my web-site :: Online Wette
buchmacher bonus ohne einzahlung
my webpage; Beste Sportwetten online
wett tipps hohe quoten
Feel free to visit my webpage; Wettseite
live wetten strategie
Feel free to surf to my website wettbüro marburg
online wetten mit startguthaben
my homepage; besten sportwetten tipps
sportwett anbieter
Also visit my site aktuelle sportwetten tipps (Berry)
ergebnis wetten live
My website :: wettanbieter ohne lugas mit paysafecard – Stacy –
sportwetten deutschland anbieter
My web page :: seriöSe wettanbieter ohne oasis
sportwetten tipps anbieter
Here is my webpage – Was Ist Ein Handicap Beim Wetten
sportwetten schweiz kiosk
Also visit my web site kombiwette eine Falsch
buchmacher was bedeutet quote bei wetten
was sind buchmacher
My web-site: sport wetten (https://Www.pikenepatorvet.No/2025/10/online-wetten-ohne-geld-sportwettenanbieter)
wetten auf deutschland
My web page – Buchmacher Us Wahl
sportwetten wer wird deutscher meister
Here is my web page: Lizenz FüR WettbüRo (Dev1.Sentientgeeks.Us)
gratiswette code ohne einzahlung
Look at my website :: sportwetten tipps von profis; Epifania,
hooksiel pferderennen wetten
Also visit my web page; no deposit bonus sportwetten (Lilian)
sport Futsal Live Wetten tipps heute
sportwetten profi tipps
Also visit my page … kombiwetten booster Erfahrung
sichere wett tipps heute
My website; Sportwetten Bonus Auszahlen
badminton live wetten
Also visit my blog post – wettquote erklärung (cafelaasgeel.com)
Please let me know if you’re looking for a writer for your blog. You have some really good articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Thank you!
quote wetten dass gestern
Visit my page :: Legale Wettanbieter Deutschland
was heißt handicap beim wetten [Tecktastic.com]
bedeutet handicap wetten
aktuelle Deutsche Sportwetten Gmbh (Ny.Moskogen.Com) bonus
sportwetten neukundenbonus ohne einzahlung (Rochell) ohne oasis schnelle auszahlung
An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who
has been doing a little research on this. And he
in fact bought me dinner because I discovered it for him…
lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending the time to talk about this subject here on your internet site.
Feel free to surf to my page :: betibet Wettseiten mit Bonus
spanien deutschland wettquoten
Also visit my page; Handicap Wette Unentschieden
Hey! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!
asiatische wetten erklärung
Here is my web site :: sportwetten ergebnisse gestern (Jayme)
gratis sportwette ohne einzahlung
Here is my page: aktuelle sportwetten tipps [Earnestine]
sichere wett tipps
Here is my site: wetten online bonus ohne Einzahlung (PAD.Degrowth.net)
sportwetten online deutschland (https://www2.Uesb.br/) heute
vorhersagen
online sportwetten deutschland legal
Feel free to visit my web-site wer ist der beste Wettanbieter
wettbüro eröffnen
My page :: Futsal live wetten
über unter wetten strategie
Here is my site: beste seite für sportwetten
wettquoten esc deutschland
My webpage – wette ohne Einzahlung (M-Condit.info)
esport wettanbieter
Here is my blog … internet wetten live (Jefferey)
bester wettanbieter
My blog wettquote deutschland
sport wetten online
Review my web page: bild sportwetten tipps (Joycelyn)
welche besten sportwetten apps sind in der schweiz legal
live Handicap wetten Erklärung erklärung
über unter wetten erklärung
my blog post … wettbüro eröffnen
alle wettanbieter deutschland Bonus im vergleich
wetten Gewinn ideen die man nicht gewinnen kann
die besten wett tipps für heute
Also visit my blog :: Wetten Quoten ErkläRung (Vmmedical.Gr)
der buchmacher
Here is my web site; kostenlos sportwetten Ohne einzahlung
seriöse was ist die beste sportwetten App anbieter
sportwetten deutsche lizenz
Take a look at my web page :: Auf Was Kann Man Beim Pferderennen Wetten; Corporativeideas.Com,
wett online
Feel free to visit my homepage: was bedeutet handicap wetten
bester alphabet wettanbieter
Check out my homepage – halbzeit oder endstand wette, Tabatha,
bester neukundenbonus wettanbieter
Also visit my website; wetten doppelte chance erklärung
wetten auf späte tore
Feel free to visit my web site … Sportwetten Steuer öSterreich
wettbüro online
Also visit my website: wettanbieter deutschland; https://magme.Madeinitalyslc.it/2025/10/06/interwetten-mobile-app,
esport wettanbieter
my blog – pferderennen hannover Wetten
tipps für wetten online paypal
beste sportwetten prognose
Also visit my homepage :: Der Buchmacher
sichere tipps für wetten (http://www.paradiseofceylonsapphire.com) sportwetten
sichere wetten rechner
Feel free to surf to my website handicap wette; Boyd,
Sportwetten Online wetten schweiz app
wettanbieter quotenvergleich
Review my website wetten auf niedrige quoten (Magda)
sportwetten anbieter mit deutscher lizenz
Also visit my website :: wett Strategie