Aos 38 anos, dirigente do que é hoje um dos maiores movimentos sociais organizados no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos tem sido também o elo de ligação de uma experiência inovadora para a esquerda brasileira: uma relação de novo tipo entre partido e movimento, não hierarquizada, não utilitarista e que busca construir as necessárias atualizações programáticas para a esquerda socialista em sintonia e a partir da experiência da práxis cotidiana na luta de classes.
Em 2018, após quase dois anos de debate nos 12 estados dos 27 estados brasileiros, contando com o Distrito Federal, onde o MTST se organiza, Boulos foi candidato à presidência da República pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), ao lado da líder indígena da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Sônia Guajajara.
O PSOL – agremiação fundada em 2004, a partir da negação de setores da esquerda socialista brasileira que reivindica-se democrática ao projeto de conciliação de classes abraçado no primeiro governo Lula – lançou neste ano a candidatura de Boulos à prefeitura da mais rica e uma das mais desiguais cidades brasileiras. O jovem líder sem-teto disputa as eleições tendo como vice nordestina de 85 anos que foi a primeira prefeita da capital: Luiza Erundina, deputada federal no quarto mandato e que foi prefeita da capital paulista entre 1989 e 1993.
Confira abaixo a entrevista concedida à jornalista Luciana Araujo e Lucas Oliveira da Jacobin América Latina.
JA
Como você analisa o Brasil nesse momento e quais são as tarefas para enfrentar os retrocessos e um governo de extrema direita?
GB
O Brasil, assim como o mundo todo, está sofrendo com a pandemia do coronavírus. Aqui, aliás, mais do que na maior parte do mundo. Somos um epicentro da pandemia, e visivelmente não por razões naturais. Por uma opção política, pelo descaso político do governo. Agora, para além da pandemia, o Brasil enfrenta Bolsonaro, que tem esse efeito mais direto no agravamento e potencialização da pandemia, mas também tem um projeto autoritário em curso.
A esquerda brasileira e o campo popular tem que enfrentar os efeitos da pandemia colocando propostas de proteção da vida das pessoas em primeiro lugar, com redes de solidariedade, e ao mesmo tempo tem que enfrentar uma ameaça autoritária.
O Bolsonaro, ou melhor, o bolsonarismo fez uma matemática muito perversa para lidar com a pandemia. E eu falo em bolsonarismo por que isso não é uma coisa da cabeça dele, que tem seus limites para formulação de estratégia. A gente poderia chamar de matemática da morte. Era previsível, por todos os índices, que o impacto da pandemia seria devastador se não se tomasse as medidas. Ninguém pode dizer que foi surpreendido em relação a isso. E acho que eles fizeram uma aposta consciente — macabra, mas consciente: “deixa rolar”, focaliza na “defesa” do emprego — como os “guardiões” da situação econômica, do desenvolvimento, aqueles que não quiseram que a economia parasse e que, supostamente, estariam defendendo os interesses do povo, que não pode fazer quarentena e isolamento.
Dentro dessa falácia fizeram a seguinte aposta: vai morrer o quê? 100 mil? 200 mil? 300 mil? Pra eles isso não tem tanta diferença. Qual é o impacto social dessas mortes? Quantos entes queridos cada um desses mortos tem? Eu acho que é exatamente essa matemática fria, a matemática do horror, o que eles fizeram. Que cada um tenha 10 entes queridos, se morrer 300 mil pessoas, que é a maior tragédia humana da história do Brasil, estamos falando de 3 milhões de pessoas afetadas, pouco mais de 1% da população. Pelo desemprego, pela piora das condições de vida, vão ser afetadas 30, 40, 50 milhões de pessoas. Eu acho que o cálculo que eles fizeram foi justamente esse: deixa morrer, “e daí?”, e ao mesmo tempo ele se coloca como “o guardião” da economia. E isso, somado ao auxílio emergencial — que não estava exatamente no cálculo, pois, foi parte da pressão da própria oposição no Congresso Nacional –, levou a um certo aumento de popularidade do Bolsonaro justamente num momento em que a pandemia está descontrolada e não há nenhuma estratégia para combatê-la. O que mostra que, do ponto de vista humano, essa estratégia é desastrosa, e do ponto de vista pragmático, tem efeito. E esse foi o cálculo deles.
Acho que o desafio que temos enquanto campo de esquerda no Brasil, a tarefa principal, é derrotar o bolsonarismo, interromper o genocídio, o projeto autoritário de Bolsonaro. Essa é a tarefa um, dois e três da esquerda. O debate é: como se faz isso? De um lado, construindo espaços de unidade e tentando construir articulações e composições que isolem o Bolsonaro, que enfraqueçam o bolsonarismo, e criem condições pra interromper esse processo de devastação. Seja por impeachment, seja por cassação da chapa, seja por avanço da mobilização popular. Isso é essencial. E também, inclusive pra que esquerda possa retomar um processo de capilaridade popular, possa ser vista pelas pessoas com credibilidade e como alternativa, precisa ter a capacidade de apresentar um projeto. Um projeto conectado com as demandas populares, que aponte para um novo ciclo que seja a derrota do bolsonarismo, mas dizendo onde a gente quer chegar.
Inclusive, as lições que o combate à pandemia traz colocam esse horizonte na mesa. A pandemia demonstrou por A + B o fracasso da lógica neoliberal hegemônica há 40 anos no planeta. O que o mercado, deixado como guia da sociedade, fez da pandemia? Especulou com respiradores, aumentou preços de leito hospitalar, fez um pote de álcool gel custar 50 reais. A lógica do mercado é essa: lucro acima da vida. Isso nunca esteve tão evidente como na tragédia que estamos vivendo. Revelou a desigualdade social — quem está morrendo com a pandemia?
Em São Paulo a mortalidade entre negros é 63% maior. Os 20 bairros em que mais morreu gente em São Paulo estão todos na periferia, e essa é a regra no mundo todo. A desigualdade como marca do capitalismo, a segregação como marca do capitalismo, a destruição de qualquer valor solidário e as pessoas atiradas na lógica do cada um por si, também de algum modo foi posta a nu. E isso coloca uma possibilidade, uma oportunidade, de debater um outro modelo de desenvolvimento. Todas as grandes tragédias na humanidade deixam lições. Uma grande guerra, um desastre natural, uma pandemia, colocam encruzilhadas, fazem com que a sociedade seja forçada a refletir sobre os valores que a trouxeram até aqui. Essa oportunidade pode ser aproveitada ou não. Cabe à esquerda vocalizar essa oportunidade e transformá-la em um projeto que dialogue com as amplas massas
JA
Você tocou na temática da política da morte – o projeto político dessa etapa do capital, a necessidade de uma política de gestão de morte diante da impossibilidade, por exemplo, de uma nova guerra mundial. Nesse contexto, voltada particularmente para as populações negras, mulheres, oprimidos em geral, povos originários, povos colonizados do mundo, populações não-brancas. A esquerda tem também que atualizar sua perspectiva de construção de projeto e leitura de classe?
GB
Sem a menor dúvida. Aliás isso já estava posto muito antes desse cenário, né? Se nós falamos do Brasil, estamos falando de um país que viveu a maior parte de sua história como colônia, de um povo que viveu a maior parte dessa história escravizado, estamos falando de um país em que as marcas da desigualdade social não estão apenas na renda e no patrimônio. As marcas da desigualdade social estão na divisão racial sobretudo, que foi o que marcou e caracterizou a escravidão como modo de produção no país e que tem as suas marcas expressas até hoje no povo, que mora as periferias do país. A marca do genocídio em relação aos povos indígenas, a marca do machismo estrutural e da violência brutal contra a mulher. Aliás, tivemos um episódio recentemente que foi revelador: o caso do estupro da criança de 10 anos e a maneira como uma parte da sociedade brasileira tratou isso. Isso é expressão de um caldo histórico.
Acho que não tem possibilidade de um projeto de esquerda no Brasil que não seja um projeto focado na reparação. Como se deram as transições historicamente no Brasil? A abolição da escravidão: uma abolição incompleta, uma transição feita por cima, que preserva os negros como subalternos na sociedade e mantém um racismo estrutural. Pegue uma outra transição mais recente: o fim da ditadura militar e a chamada redemocratização. Um processo que foi feito sem qualquer tipo de reparação aos crimes da ditadura, novamente uma transição por cima, um grande acordo em que o povo foi excluído da composição e da construção desse acordo. E portanto uma redemocratização também incompleta. Isso deixa marcas. Esse tipo de superação nunca feita faz com que grandes temas e grandes desigualdades e divisões sociais se perpetuem.
Fazendo uma analogia com a psicanálise, é o que o Freud chama do passado que não passa. Uma coisa no nosso inconsciente que a gente recalca em vez de elaborar. E, ao recalcar, esse recalcado volta sempre, como sintoma, como sonho, volta toda hora na nossa vida. O Brasil tem recalques históricos profundos. O recalque histórico da escravidão — não foi uma superação, não houve reparação. O recalque histórico da ditadura — não foi uma superação, não houve reparação. Inclusive é isso que permite que a gente tenha um racismo estrutural tão brutal, e é isso que permite que a gente tenha um cara que defende tortura na presidência da República. Isso seria inconcebível em um país que reparou os crimes da ditadura. Isso seria inconcebível em um país que fizesse reparação da escravidão. Pra ficar nessa duas transições marcantes da nossa história.
Por isso qualquer projeto de combate à desigualdade, qualquer projeto anticapitalista no Brasil, tem que ser um projeto descolonizador. Ele tem que ser, por natureza, um projeto antirracista. Ele tem que ser por natureza um projeto de aprofundamento democrático e da participação popular, profundamente antiautoritário. Acho que as marcas que a gente carrega com a nossa história se colocam como urgências pra um projeto transformador do país.
JA
Como vocês estão lendo essas movimentações dos setores da direita que tentam se distanciar mas ao mesmo tempo sustentam esse projeto?
GB
Primeiro, é uma tarefa nossa trabalhar pra deixar o bolsonarismo o mais isolado possível na sociedade. Isso significa inclusive ver com bons olhos que setores da velha direita brasileira se distanciem e se descolem do bolsonarismo. Sem qualquer confiança nesse setores, sabendo quem eles são, sabendo o que eles representam.
Mas é melhor que esses setores se desvinculem do bloco bolsonarista e o deixem mais isolado, do que se aproximem deste bloco. Basta ver o quanto a composição do Bolsonaro com o Centrão fortaleceu o governo, que tava nas cordas. É muito melhor pra nós que o Centrão esteja contra Bolsonaro do que esteja a favor. Inclusive do ponto de vista prático da possibilidade de um processo de impeachment. Isso é uma coisa, e isso deve nos levar a iniciativas políticas — nós não somos observadores da conjuntura.
Iniciativas políticas de buscar fazer algum tipo de articulação antibolsonarista, em defesa da democracia, contra o autoritarismo, contra o fascismo, em que caibam todos aqueles que comunguem dessa bandeira. Eu nem chamo isso de frente, que tem gerado muita confusão tática na esquerda. “É frente ampla, é frente de esquerda, é frente popular?” Talvez a forma mais didática da gente expressar isso seja não chamar de frente. Até porque frente dá a entender que é uma articulação permanente e orgânica, o que não é o caso. Mas você ter espaços de defesa da democracia que sejam amplos e plurais eu acho importante, nesse aspecto de isolar o bolsonarismo.
Por outro lado, nós temos que saber quais são os limites desses setores. Eles não vão combater o Bolsonaro até as últimas consequências. Aliás a maior expressão disso é o Rodrigo Maia (DEM) estar sentado em cima de mais de 30 pedidos de impeachment. Eles não são contra o projeto do Bolsonaro. Eles acham que o projeto do Bolsonaro tá bem, o problema é que o Bolsonaro tem seus arroubos, é excêntrico demais, fala muito. Esse é o tipo de diferença pontual que eles têm com o bolsonarismo. Ou por vezes diferenças de projetos pessoais, político-pessoais, político-partidários, como o João Dória, que enquanto era interessante pra ele estar próximo do Bolsonaro pra ter capital eleitoral fez o “Bolsodória”, e quando viu que precisava se desvincular para construir um projeto próprio para 2022, começou a bater. Então, uma parte desses setores é oportunismo político puro e simples, outra parte são diferenças pontuais com o Bolsonaro — concordam com a agenda, só acham que ela poderia ser feita com um pouco mais de delicadeza.
Entendendo qual é a postura desses setores, nós temos que compreender que embora alguns deles possam cumprir um papel para isolar o bolsonarismo circunstancialmente, e temos que estar atentos para isso, eles são nossos adversários. Eles representam outro campo político, outro projeto político, o projeto do atraso, profundamente antipopular, e precisam ser enfrentados. Agora nas eleições isso é um exemplo. Nas eleições municipais, que serão nacionalizadas mais do que nunca no Brasil. O exemplo é quem serão nossos adversários aqui em São Paulo, na maior cidade do país. O bolsonarismo é nosso adversário, mas os tucanos também são. Dória e Bruno Covas vão ser nossos adversários. Estamos enfrentando dois campos da direita. Temos que ter a maturidade para entender a diferença que eles têm entre si, e sintonizar a tática para lidar sobretudo com a direita tradicional brasileira, mas compreendendo que são dois campos que são nossos adversários, dois campos inimigos na luta política.
JA
Nesse processo, especialmente nas eleições, como que você avalia o papel do PSOL para disputar a sociedade — disputar as camadas sociais que são hegemonizadas tanto pela esquerda tradicional de um lado, como as que são capturadas por esse discurso das diferenças de tom na aplicação do mesmo projeto — e se colocar como um novo processo de experiência histórica alternativa?
GB
É importante a gente constatar que o PSOL tem tido um crescimento relevante na sua base social e eleitoral, ainda muito focado na representação parlamentar. E se a gente olhar o perfil desse crescimento, é na juventude, em movimentos e ativismo da luta pela diversidade, da luta das mulheres, da luta antirracista. O PSOL tem ganho segmentos dinâmicos da sociedade, que na verdade têm se identificado com o partido como sua expressão política e eleitoral. Isso é importante, mas é insuficiente pra gente construir um projeto capaz de derrotar o bolsonarismo e de apontar um novo ciclo de esquerda no Brasil. Para isso, a grande tarefa do PSOL é se popularizar. O PSOL tem um desafio histórico. Se vai estar à altura de inaugurar um novo ciclo, de impulsionar um novo ciclo de esquerda no país e de ser alternativa real de poder, vai depender da sua capacidade de executar a tarefa que está posta hoje, que é a tarefa de enraizamento popular. É assim que eu enxergo. O maior desafio do PSOL é tomar um banho de povo — sem perder a sua capacidade dinâmica, de diálogo com esses setores de vanguarda da luta social brasileira, mas construindo um enraizamento.
E tem muita coisa que não precisa reinventar a roda. É claro que o mundo mudou, a forma de se comunicar das pessoas mudou, não é mais o mimeógrafo, é o WhatsApp. As formas de comunicação são outras, e às vezes a gente tem também um ideário quando a gente fala, por exemplo, em trabalho de base. Às vezes vem aquela coisa das CEBs [Comunidades Eclesiais de Base], dos anos 1980. Tem uma parte disso que mudou, e que a gente precisa ser capaz de compreender. O que é hoje, por exemplo, fazer disputa de consciência nas redes sociais? O que a gente pode aprender inclusive com as técnicas utilizadas pela extrema direita de fazer uma capilarização via WhatsApp? Eles usaram isso para fake news, mas isso não precisa ser usado para fake news.
Por outro lado, tem coisas que permanecem e que nós fomos derrotados porque descuidamos. “Nós” digo aqui como um projeto progressista, um projeto de esquerda, que se desconectou do povo nas periferias. Deixou de construir redes de contato, redes de solidariedade, redes de permanência. A questão é: uma senhora que está na favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo e acabou o gás ou teve seu filho foi assassinado pela polícia. Quem é que ela vai procurar? Ela vai procurar a esquerda ou o pastor? Esse é o tema. Precisamos construir o enraizamento que hoje não temos nas periferias urbanas, sobretudo no Brasil, para que a gente construa referência cotidiana com o povo, reconstrua um vínculo de confiança e de credibilidade.
Esse espaço que as igrejas neopentecostais foram ocupando — e uma parte delas, não todas, instrumentalizando para um projeto político atrasado e conservador — é um espaço que a esquerda, os movimentos sociais, os partidos foram deixando vazio. Cabe ao PSOL ter como tarefa histórica fundamental a retomada desse espaço. Isso não é rápido. Não estamos falando de um projeto para eleição. A gente pode ter vitórias eleitorais nesse meio tempo, porque a dinâmica eleitoral também depende de outros fatores, mas a gente não vai ter vitórias históricas nesse meio tempo se a gente não fizer isso. A gente pode e deve trabalhar assiduamente para ganhar eleições. Não existe essa coisa mecânica: primeiro a gente constrói trabalho com o povo, depois a gente disputa eleição. A vida não é assim. Aliás, a eleição, se a gente faz dela um momento de disputa de valores, também é uma forma de trabalho de base e enraizamento na sociedade. Mas ela tem que vir junto com um trabalho contínuo, não pode ser uma disputa ideológica e um trabalho de base de 4 em 4 anos. Porque isso é parte da perda de credibilidade, da esquerda inclusive, diante do povo.
Eu acredito muito que a maior tarefa que a gente tem pra crescer e se colocar na condição de ter uma vitória histórica no Brasil, de disputar o poder, é construir um projeto, de médio e longo prazo, de reconexão com os setores populares do nosso país. O PSOL vai ser a melhor alternativa no Brasil se conseguir fazer isso.
JA
Nessa perspectiva duas chaves são fundamentais para o debate: uma relação de novo tipo com os movimentos sociais organizados e, por outro lado, num país como o Brasil, mas não só, na América Latina em particular, uma relação e uma resposta ao espaço ocupado pelas igrejas — em particular as igrejas mais vinculadas a uma perspectiva fundamentalista. Como você avalia essas possibilidades e os caminhos que vêm sendo trilhados nesse último período?
GB
Nós temos que, eu acho, também superar o estigma que a esquerda fez sobre os evangélicos. Na cabeça de uma parte da esquerda com um pensamento até elitizado, se criou a ideia de que evangélico é ignorante, massa de manobra, de direita. Obviamente a vida é muito mais complexa. Eu atuo num movimento social há 20 anos que tem uma base majoritariamente evangélica. E tem evangélicos que ocupam terra para lutar por moradia, que bloqueiam avenidas, ocupam prefeituras, marcham para Brasília.
JA
Muitas lideranças evangélicas inclusive têm um projeto mais vinculado às tradições de esquerda.
GB
Muitas lideranças evangélicas. Nós temos lideranças evangélicas no PSOL. O pastor Henrique Vieira é a mais visível.
JA
E no MTST e outros movimentos populares há muitas mulheres evangélicas nas lideranças?
GB
Mulheres que coordenam ocupações, coordenam regiões, coordenam núcleos, e são evangélicas. Nós temos que quebrar esse estigma, porque ele cria um estranhamento. Outro dia eu tava fazendo uma live, um bate papo, com o pastor Levi. Uma figura bem interessante. Ele falou “olha, essa postura da esquerda de ficar com pé atrás, ‘é evangélico, vira a cara, gera uma recíproca, né? Fortalece uma recíproca dos evangélicos em relação à esquerda’. E aí você cria um abismo que depois fica difícil de refazer uma ponte”.
Enquanto é tempo, a esquerda precisa se desafiar a construir um diálogo com o evangélico. E construir um diálogo com o evangélico não é um diálogo religioso. É um diálogo inclusive, primeiro, em relação a estar lá na base. O que as igrejas evangélicas fizeram foi o que a igreja católica fez nos anos 80 com as Comunidades Eclesiais de Base. A primeira lição de casa é essa: estar no território, ser referência, construir redes de solidariedade. Esse é o elemento popular que hoje está expresso majoritariamente na igreja evangélica.
A outra questão é um debate de valores, mas não um debate de valores descuidado. A pior coisa que a esquerda pode fazer é chegar para dialogar com público evangélico com palavras de ordem. Sobretudo nos temas que a gente sabe que são bastante sensíveis para a moralidade desse público. Eu não estou falando para a gente abaixar bandeiras, recuar, mas de saber fazer o debate. Não fazer o debate de uma forma ofensiva, não fazer o debate de uma forma desrespeitosa. Compreendendo qual é a concepção das pessoas, a consciência que as pessoas têm desses temas. Falta muito. Às vezes a gente tem uma linha muito autoproclamatória, pela necessidade e importância que algumas temas tem. Por exemplo, LGBT. Morre LGBT todo dia vítima de violência. Ou o tema do aborto. Nosso impulso é adotar um discurso extremamente ofensivo. Mas nós temos que saber conter esse impulso. Porque senão vamos estar dando munição pros pastores reacionários. É fundamental saber fazer esse debate.
Saber fazer o debate por exemplo em relação ao empreendedorismo. Isso pegou muito no público evangélico. Qual a proposta que nós temos em relação ao tema da iniciativa individual, que é um tema que a ética evangélica, a Teologia da Prosperidade, apresenta como solução paras pessoas e hoje é um sentimento hegemônico nas periferias? Nós vamos simplesmente negar isso?
JA
Um sentimento hegemônico que vem de uma história em que a maioria da população teve que se virar assim, desde os escravizados que compraram sua liberdade, até a população abandonada à própria sorte hoje.
GB
Claro! Empreendedorismo é um nome “bonitinho” que eles usaram pra falar do trabalho precário, da iniciativa por conta própria que o povo tem secularmente o Brasil. O mercado de trabalho formal nunca foi a forma absolutamente dominante pro povo brasileiro. Nós sempre tivemos o “precariado” de hoje, o cara que trabalha por conta própria, que se vira, que está hoje no Uber, em cima de uma moto fazendo entrega, ele sempre existiu sob distintas formas no Brasil.
E nós precisamos dar resposta pra isso. Nossa resposta não pode ser só CLT pra todo mundo. É óbvio que temos que defender a formalização do trabalho, a garantia de direitos, a garantia de previdência. Essas são bandeiras históricas de combate à desigualdade e defesa dos trabalhadores. Mas nós temos que saber dialogar com a iniciativas individuais, desde a senhora que vende bolo na entrada do metrô Capão Redondo às 6h da manhã, até o jovem que está com a ideia de fazer uma startup, ou um projeto de não sei o quê. Nós precisamos construir uma proposta pra isso também. Isso tem tudo a ver com nossa capacidade de entrar e dialogar com a base evangélica hoje nas periferias.
JA
Quais foram os principais erros da esquerda no continente, além do que você já falou do abandono de uma base social que buscou alternativas, e os principais limites nos últimos 30 anos.
GB
Hoje eu apontaria 3 grandes limites das experiências progressistas — não vou falar das experiências da América Latina, porque elas foram muito heterogêneas entre si. Não é a mesma coisa falar da experiência do chavismo na Venezuela e do lulismo no Brasil, ou do Evo Morales na Bolívia, ou Rafael Correa no Equador, ou da Argentina. Cada um teve uma característica histórica, embora elas possam ser colocadas num bolo comum de ciclo progressista no continente na primeira década do XXI. Mas vou falar mais do Brasil.
Acho que, primeiro, um limite importante dos governos petistas foi optar por um programa de melhorias sociais, por um programa de redução da pobreza, sem propor reformas estruturais. É o que a gente chamou de estratégia da conciliação, que é “vamos dar Bolsa Família, um programa social, botar as pessoas na universidade, melhorar o investimento público, melhorar a vida do povo”. Mas isso foi feito sem o combate aos privilégios históricos, sem pautar reforma tributária; reforma do sistema financeiro; combate aos juros abusivos dos bancos; reorganização no Estado brasileiro, que é concentrador e não distributivo. Enfim, um conjunto de reformas que seriam essenciais para combater privilégios históricos, para fazer reparação histórica.
Um segundo limite importante foi a ausência de disputa de valores na sociedade. Aquilo que o Mujica disse, se referindo ao ciclo latino-americano como um todo: “nós formamos consumidores, não formamos cidadãos”. Ou seja, fortaleceu a lógica do consumo, pode financiar um carro, como sinônimo de vitória, de prosperidade na vida, e não fez uma disputa de valores, de modelo.
Nós estamos pagando o preço disso hoje, com a sociedade do horror. As pessoas que melhoraram de vida durante os governos do PT, uma parte importante delas votaram no Bolsonaro e hoje é base do bolsonarismo. Não foi feita uma disputa do tipo: “É o cada um por si ou é a solidariedade? Qual é o modelo de desenvolvimento que a gente quer?” A ideia de ter o crescimento econômico e alguma melhora na renda dos mais pobres como finalidade última, sem fazer uma disputa de projeto, de valores, de modelo na sociedade, nos levou onde estamos.
E terceiro, o problema de não ter avançado na democratização da sociedade. E isso os próprios governos petistas foram vítimas depois. Quando naturalizaram a ideia de que governabilidade é ter maioria parlamentar pelos mesmos métodos como se obtém maioria parlamentar desde sempre no Brasil, ficaram reféns disso. E tomaram um golpe em 2016, no momento em que teve uma fragilidade e perderam essa maioria parlamentar.
Então faltou a construção de processos de participação, faltou a democratização do poder no Brasil, faltou abrir espaço para governar junto com os movimentos sociais, fortalecer processos de mobilização da sociedade, que inclusive poderiam ser decisivos para fazer com que um Congresso Nacional seja forçado a abrir mão de seus privilégios. Ninguém nega que tenha uma correlação de forças, ninguém nega que a esquerda nunca teve maioria no Congresso e que precisa dele para muitas coisas. Mas ter governabilidade no “toma lá-dá cá” não é a única forma de governar um país. Estimular a mobilização popular e a mobilização social muda a relação de forças. Cada deputado ali no Congresso quer se reeleger quatro anos depois. Se você cria e constrói um caldo na sociedade — e ter o Poder Executivo é fundamental para isso –, abre espaço para mudanças mais profundas. Eu apontaria esses 3 limites como os principais dos governos petistas.
JA
Como responder a esse processo e avançar numa perspectiva de um novo ciclo de reorganização e rearticulação da esquerda, no Brasil e na América Latina?
GB
Um deles: o foco no combate à extrema direita. A extrema direita cresceu não apenas no Brasil, se tornou um fenômeno político relevante na América Latina e no mundo todo. Um papel nosso é construir uma linha e táticas de unidade que fortaleçam o combate à extrema direita.
Segundo: uma clareza programática para não repetir os mesmos erros do ciclo anterior, o que implica um programa baseado no enfrentamento ao capital financeiro, entender a importância de fazer do Estado um instrumento de distribuição, de combate à desigualdade. Um programa que entenda que o combate a desigualdade não é apenas uma questão de renda. É combate às várias formas de desigualdades e opressões na sociedade, o que implica ser um programa eminentemente antirracista, antimachista, que valorize a diversidade, que resgate o espaço dos povos originários.
Ter a capacidade de pautar um novo modelo de desenvolvimento. O Brasil hoje se consolidou no cenário mundial como a fazenda da China. E a América Latina se consolidou assim, um processo de reprimarização a partir de um modelo extrativista, dominado por um agronegócio predatório, que envenena comida, que destrói rios, florestas, por cima dos povos. Então, é essencial colocar na mesa um outro modelo de desenvolvimento, que apresente alternativas à destruição ambiental, paralelamente ao combate à desigualdade social como um todo.
Também, a descolonização dos bens comuns. Acho que esse tema apareceu com muita força agora na pandemia, e nós temos que saber transformá-lo em programa, em proposta política. Pegue a saúde: ao defender o SUS a gente era tratado como dinossauro. De repente, o SUS vira consenso nacional, o profissional de saúde que era “vagabundo, privilegiado, parasita”, vira herói da nação. Isso abre um espaço para que a gente possa debater que a saúde não é mercadoria — e que a educação também não é, a água não é, a terra não é. São bens comuns essenciais à vida. Essa recuperação do público, essa recuperação do comum, tem que ser um eixo importante para um programa de esquerda que aponte para o futuro.
E por último, a conexão com o povo. A esquerda só vai ser capaz de impulsionar um novo ciclo de verdade se for um ciclo de massa, popular, se tiver a capacidade de falar para o povo, dialogar com o povo e estar com o povo. Acho que esses são os desafios principais que eu enxergo para a renovação, para a reinvenção da esquerda que a gente precisa no Brasil e na América Latina.
JA
Qual lugar das eleições municipais nesse cenário todo em meio à maior pandemia do século, a partir de um movimento social que consolidou muito peso no último período e que tem experimentado muito dessa perspectiva programática que você aponta, na prática de construção cotidiana?
GB
O desafio que nós temos aqui na eleição de São Paulo, além do óbvio — derrotar o bolsonarismo, derrotar os tucanos, o projeto que vê a cidade como negócio –, é dar exemplo de que é possível, mesmo num cenário devastador como esse, mesmo com mais de 170 mil mortos, mesmo com Bolsonaro no governo, com uma crise econômica que se avizinha que também vai colocar o nosso povo numa situação muito difícil. Mesmo nesse cenário é possível construir um projeto novo de sociedade. São Paulo é a maior cidade do Brasil, o que acontece em São Paulo ressoa para o Brasil. E se a gente derrota o bolsonarismo em São Paulo e, mais do que isso, constrói um projeto de esperança, coloca a periferia no centro, faz do combate à desigualdade o mote central de um governo popular, mostra que isso é possível mesmo que em escala municipal e com os limites que isso tem, a gente pode iniciar aqui a derrota do bolsonarismo e o impulsionamento de um novo ciclo de esquerda.
Por isso eu não acho que essa eleição seja apenas municipal. É claro que nós temos o desafio de pensar um projeto de cidade. São Paulo é uma das cidades mais segregadas do planeta. No espaço de 25 km dos Jardins até a Cidade Tiradentes, você tem uma expectativa de 80 anos que passa para 56. Num espaço de outros 25 km, de Moema ou Higienópolis até o Jd. Ângela, você tem o IDH da Suécia de um lado e o IDH dos países mais pobres do mundo no outro. São dois mundos dentro de uma cidade.
E por isso um projeto que combata a desigualdade em São Paulo, que tenha forte participação popular, que inverta prioridades, que coloque essa periferia como centro, pode ser exemplo do que a gente quer pro Brasil. Mais do que isso, pode ser exemplo do que é possível fazer no Brasil. É essa utopia concreta que a gente pode construir e apresentar em um governo popular em São Paulo. Acho que esse é o nosso desafio para campanha e um eventual governo.












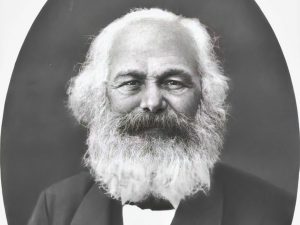

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!