Em maio de 1945, enquanto a fumaça ainda pairava sobre as ruínas do império de Adolf Hitler, o instituto de pesquisa de opinião francês IFOP perguntou aos cidadãos que país eles acreditavam ter contribuído mais para a derrota da Alemanha nazista. 57% dos entrevistados consideram a União Soviética o ator decisivo, em comparação com 20% para os Estados Unidos e 12% para a Grã-Bretanha. No entanto, quando o instituto realizou a mesma pesquisa em 1994, após o colapso da URSS, verificou que as percepções haviam mudado radicalmente. Cinco décadas depois, apenas 25% acreditavam que a URSS havia contribuído mais para a causa aliada, em comparação com 49% para os Estados Unidos e 16% para a Grã-Bretanha.
A memória histórica pode ser bastante inconstante. Isso não acontece apenas porque a história se afasta à medida que a imagem do passado enfraquece. Na verdade, a memória histórica é algo que muda através de um processo ativo no qual cada geração reinterpreta o mundo transmitido a ela. Nesse caso, é fácil ver como as mudanças na visão ocidental dominante da URSS após 1945 — a Guerra Fria, o repúdio de Stalin por Nikita Khrushchev, as revoltas no bloco oriental e seu colapso final — abalaram o prestígio que esse estado havia desfrutado no final da Segunda Guerra Mundial, tendo sido o ator principal nessa causa nobre.
Mais do que simples mudanças, a memória histórica é remodelada ativamente pelas representações da cultura popular, bem como pelas forças políticas ativas. É assim que devemos entender a aprovação, em 18 de setembro, de uma resolução do Parlamento Europeu “sobre a importância da memória europeia para o futuro da Europa”. Apoiada pelo S&D (centro esquerdo), Renovar a Europa (liberal), Partido Popular Europeu (Democrata-Cristão) e Reformistas e Conservadores Europeus (conservador), a resolução é apresentada como uma condenação a todos os tipos de “totalitarismo”, tomando o Pacto Molotov–Ribbentrop de agosto de 1939 como o ponto de partida de cinco décadas de uma opressão encerrada pelo projeto europeu e pela OTAN.
Há uma história bastante duvidosa aqui. O pacto foi, de fato, o gatilho imediato da invasão da Força de Defesa Alemã na Polônia — provocando a declaração de guerra franco-britânica contra a Alemanha nazista. Ele também incluía cláusulas secretas nas quais Berlim e Moscou dividiam zonas de domínio na Europa Oriental, que duraram até a invasão alemã da URSS em junho de 1941. Do lado de Stalin, essa não era apenas uma “margem de manobra” para construir as defesas soviéticas, mas um ato característico de extremo cinismo em relação às populações da Europa Oriental; isso também foi um choque para os comunistas de toda a Europa, induzidos nos anos anteriores por uma oposição militante ao hitlerismo.
No entanto, ainda podemos duvidar que o pacto “tenha causado a eclosão da Segunda Guerra Mundial” ou que a guerra não tenha passado de uma divisão nazista-soviética da Europa. E o fato de Hitler ter planejado a guerra ainda na década de 1920, ou a realidade — brevemente comprovado por eventos não mencionados na resolução — de que a URSS era a maior vítima de sua política de guerra (27 milhões de mortos) assim como o principal ator no combate ao nazismo? E os eventos da década de 1930, em que os conservadores britânicos e franceses “apaziguaram” o líder nazista — deixando que ele infringisse a proibição do Tratado de Versalhes ao rearmamento alemão, entregando-lhe “concessões” territoriais na Europa central e fechando os olhos para sua intervenção armada na Espanha — enquanto recusavam a aliança antinazista proposta por Stalin?
Anticomunismo Sem Comunismo
Esses argumentos históricos são bem conhecidos. Mas mais importante para nossos propósitos é a pergunta invocada no título da resolução — ou seja, o que essa versão específica da história diz sobre o “futuro da Europa”. Essa é, afinal, uma radicalização do anticomunismo convencional. Como Primo Levi disse uma vez, nem Alexander Solzhenitsyn descreveu algo similar a Treblinka ou Chelmno — mas essa resolução apresenta o “comunismo” como claramente genocida. Com base no anticomunismo húngaro e polonês, bem como na “filosofia antitotalitária”, a resolução do Parlamento Europeu condena não apenas atrocidades stalinistas, mas toda a experiência do socialismo estatal — e até mesmo os comunistas que se opunham a Stalin — como equivalentes aos nazistas e seus campos de extermínio.
Isso, pelo menos, serve ao propósito de retratar até o mais severo nacionalismo polonês ou húngaro em termos de vitimização e redenção. Parece que os nazistas já foram condenados o suficiente, mas não os comunistas. De acordo o Partido polonês Lei e Justiça (PiS), “os judeus foram compensados pelos eventos da Segunda Guerra Mundial, os poloneses nunca” (uma posição que nitidamente descarta a “polonidade” dos judeus assassinados). No entanto, a resolução também retrata o comunismo como um câncer que compromete a democracia europeia, mesmo em países onde quase não existem forças comunistas reais. Como nos Estados Unidos Macarthista, o “anticomunismo” ataca muito mais do que apenas comunistas.
Isso é particularmente notável na Polônia, onde o pedido contínuo da PiS pelo expurgo de “comunistas” serve como elo de um nacionalismo ressentido. Enquanto na revolução anticomunista de 1989, o líder Jarosław Kaczyński se apresentava como um democrata-cristão centrista, ele é hoje uma figura de extrema-direita que trava a batalha “anticomunista”, mesmo contra forças distantes da esquerda política. A chamada campanha de “lustração” (ou “descomunização”) alega que os ex-comunistas nunca foram expurgados adequadamente — e quando o Tribunal Polonês derrubou as medidas de “lustração” do PiS como inconstitucionais e antidemocráticas, seus juízes foram retratados como meros patetas comunistas.
Podemos identificar desenvolvimentos semelhantes na Hungria, onde o líder de extrema direita Viktor Orbán (que em 1989 era um liberal) está travando uma guerra contra o “comunismo” década adentro. Em 2011, ele introduziu uma nova constituição centrada no espírito arcaico da “Santa Coroa da Hungria”, nos valores familiares e no cristianismo, ao mesmo tempo que retirava a palavra “república” do nome do país. Assim, ele substituiu até a constituição de 1990, alegando que ela preservava uma estrutura “comunista”, dada suas notas republicanas e seculares. Na Hungria, todos os símbolos comunistas (incluindo a estrela vermelha, o martelo e a foice) são proibidos; a luta contra o “comunismo” é rotineiramente usada para deslegitimar qualquer oposição.
Isso corresponde ao que Richard Seymour denominou “anticomunismo sem comunismo” — a prática pela qual líderes como o brasileiro Jair Bolsanaro e o italiano Matteo Salvini (e antes dele, Silvio Berlusconi) travam uma guerra cultural contra o “comunismo”, mesmo onde a esquerda já deixou de existir ou se converteu em posições centristas e neoliberais. Na ausência de comunistas reais, a extrema direita os substitui por algum outro “demônio” (especialmente minorias raciais) ou simplesmente apresenta valores democrático-republicanos como inimigos da “cultura nacional” e do “senso comum”. A luta contra o “marxismo cultural” desempenha um papel semelhante no discurso alt-right americano.
Esta versão do anticomunismo também é impulsionada pela resolução do Parlamento Europeu e sua maneira específica de invocar a ameaça “stalinista”. Na ausência de formações políticas comunistas de massa, até mesmo onde elas já governaram, esse histórico é armado contra outro grande bicho-papão — a Rússia — que é acusada de “distorcer fatos históricos e encobrir crimes cometidos pelo regime totalitário soviético” como parte de sua “guerra de informação contra a Europa democrática com o objetivo de dividir a Europa”. Trocando alhos por bugalhos, os memoriais de guerra soviéticos erguidos após 1945 são retratados como veículos da “ideologia totalitária” que a Rússia aparentemente estaria nos empurrando até hoje.
Por esse motivo, a resolução representa uma estranha combinação de interesses entre os centristas liberais do Ocidente e as forças nacionalistas dos países do Grupo de Visegrado, para quem o grande inimigo é a “Rússia”, em uma Guerra Fria renovada. Para quem enxerga uma mão russa na vitória de Trump, no Brexit, ou nos ataques ao príncipe Andrew, parece mais heróico pensar em si próprio como um cavaleiro contra o “totalitarismo”. No entanto, essa obsessão antirussa também leva a um apagamento sem precedentes do antifascismo, mesmo por partidos como o Democrata italiano (um partido em grande parte descendente do Partido Comunista Italiano) e o Partido Trabalhista do Reino Unido, tendo ambos votado a favor da resolução do Parlamento Europeu.
A história da Segunda Guerra Mundial não é uma jogada de moralidade. Winston Churchill foi um grande oponente de Hitler na defesa do Império Britânico; uma figura venerada da resistência alemã, tal qual Claus von Stauffenberg, apoiou o uso do trabalho escravo polonês e a defesa das conquistas territoriais de Hitler. Quem estiver suficientemente motivado pode com toda a certeza encontrar casos de assassinatos injustos cometidos por combatentes da resistência comunista; também houve crimes não mencionados nesta resolução, como os estupros em massa cometidos pelas tropas do Exército Vermelho (e ocidentais, em menor grau).
Esses fatos merecem uma investigação histórica adequada, como de fato receberam. Mas eles não causam a relativização da história de ideologias que promovem abertamente a guerra racial, a conquista e a subjugação ou escravização de mulheres e minorias. No entanto, a comparação do comunismo ou mesmo de “ideologias radicais” em geral ao nazismo feita pelo Parlamento Europeu, faz exatamente isso. Ninguém compararia o Holocausto às condições sob o regime socialista do pós-guerra na Polônia como tentativa de fazê-lo parecer terrível — a acusação polêmica está inevitavelmente focada na direção oposta, na alegação de que os comunistas “não eram melhores” que os nazistas.
Demonizando a Esquerda
Além do analfabetismo histórico, a resolução do Parlamento Europeu também é motivada por um objetivo bem diferente: determinar quem são os legítimos combatentes da liberdade. A julgar pelos promotores da resolução, parece que essa categoria se estende de Emmanuel Macron a Viktor Orbán, mas não aos oponentes de esquerda do neoliberalismo e da OTAN. A esse respeito, é notável a referência explícita à OTAN como o alicerce da “liberdade” e da “família europeia”, juntamente com as “reformas e o desenvolvimento socioeconômico, com a assistência da UE” realizada nos países da Europa Central e Oriental. Aqui, não apenas o projeto europeu em geral, mas a OTAN e a reestruturação neoliberal são retratadas como a barreira ao totalitarismo.
Após 1945, muitos países democráticos proibiram o ressurgimento de partidos fascistas ou nazistas — o expurgo do antigo pessoal desses regimes ocorreu em maior ou menor grau dependendo país. Após o colapso do bloco oriental, esse processo foi imitado em muitos países do centro-leste da Europa, que por sua vez baniram os partidos comunistas. No entanto, se hoje a ameaça “stalinista” é puramente imaginária, Salvini, Orbán e Kaczyński estão usando o “antitotalitarismo” para condenar a esquerda, negando serem fascistas.
Em um convincente artigo sobre a “herança do totalitarismo”, Owen Hatherley evoca o Szoborpark em Budapeste, um “cemitério” de monumentos ao stalinismo húngaro. Lá estão as botas da estátua de Stalin, derrubada pela revolução de 1956, mas também os memoriais de guerra soviéticos e até mesmo o tributo às Brigadas Internacionais, social-democratas e comunistas que foram combater o fascismo na Espanha — agora condenados como tantos totalitários. Em 1989, Orbán elogiou Imre Nagy, o líder comunista executado em 1958 por ter enfrentado a União Soviética — em 2018,sua estátua foi demolida como apenas mais um monumento ao totalitarismo. Se o comunismo realmente fosse equivalente ao nazismo, teria sido como queimar cópias da Lista de Schindler.
É por isso que se opor à resolução do Parlamento Europeu sobre o “totalitarismo” não tem a ver com a defesa de Stalin, com a negação de crimes como o massacre de Katyn ou com a alegação de que o Pacto Molotov-Ribbentrop era apenas um acordo de paz. Trata-se de se opor à reformulação impensada da história para os mais rasos fins políticos, nos quais o Holocausto nazista é relativizado simplesmente para fazer a Rússia parecer má. Os liberais geralmente gostam de afirmar que estão defendendo “os fatos” contra as alegações de figuras como Orbán e Salvini, que estão tentando debilitar nossa democracia. Se eles realmente estiverem tão comprometidos com essa causa, podem começar recusando a visão de extrema direita da história.









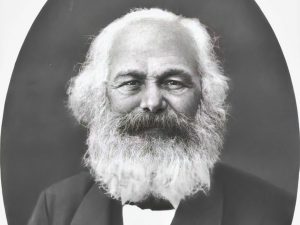





**mitolyn reviews**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.